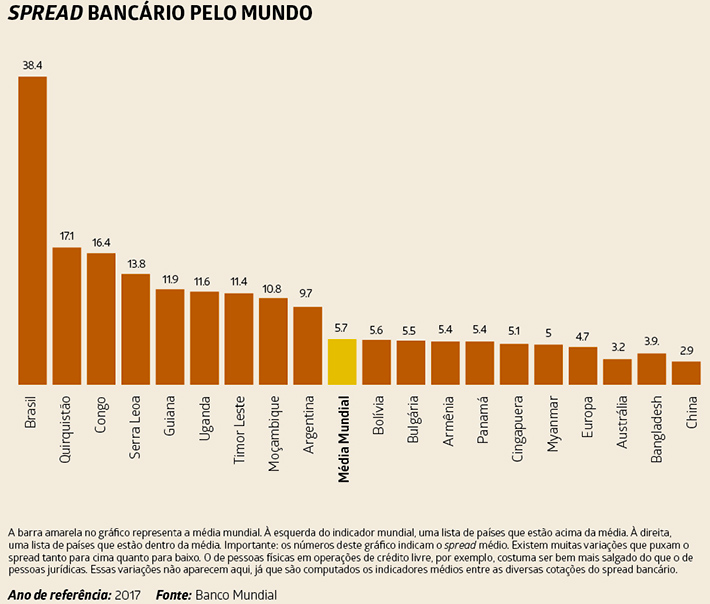003
2003
2014
A cada quatro anos, o Brasil vive um que se difere dos demais. Ao final do carnaval, que para muitos simboliza o início, de fato, do ano, sucedem-se a Copa do Mundo de futebol e as eleições gerais. Somando-se às já famosas festas juninas, de presença obrigatória para nossos parlamentares, e o recesso de julho do Congresso Nacional, so bra pouco tempo para um governo, em final de mandato, promover as medidas necessárias para levar o país a um caminho virtuoso.
Nesta edição da Por Sinal, deixando de lado a peculiaridade deste 2018, procuramos trazer à discussão matérias que sejam relevantes não só aos servidores públicos, mas também à sociedade brasileira como um todo.
Afinal, se a reforma do Estado
proposta pelo Banco Mundial atinge em seu primeiro momento os servi- dores,
acusados de serem os responsáveis pela crise fiscal do país, suas consequências,
que passam por um verdadeiro desmonte dos serviços públicos, atingirão a todos
aqueles que direta ou indiretamente deles dependam, com mazelas maiores aos
menos favorecidos economicamente.
Aos novos candidatos ao comando do país
deixamos reflexões sobre a necessidade de se caminhar para um sistema tributário
mais solidário e para um custo dos empréstimos bancários que seja condizente às
necessidades das empresas e dos cidadãos, pois, embora a taxa Selic tenha
baixado a um patamar nunca visto, os juros cobrados pelo sistema financeiro aos
tomadores de crédito ainda são altíssimos e desproporcionais aos interesses da
nação.
A “securitização” das dívidas estatais e a autonomia do Banco Central do
Brasil, assuntos que se encontram em discussão no Congresso Nacional, mereceram
uma análise mais cuidadosa, pois apresentam vantagens inequívocas, porém, com
arestas que precisam ser aplainadas, mas, para tanto, é necessário que se tenha
em mente apenas o interesse público.
Apresentamos, ainda, artigo de Edil Batista Júnior, doutor em
Teoria Geral do Direito, professor da Uninassau, em Recife (PE), e conselheiro
editorial da Por Sinal, que trata sobre a Constituição Federal brasileira, o
Direito Constitucional eo distan- ciamento entre o mundo normativo e o mundo
real.
Por fim, o que seria uma entre- vista com Luiz Carlos Bresser-Pereira,
reconhecidamente um personagem da cena brasileira, cujas múltiplas funções
assumidas ao longo da vida nos meios políticos, empresariais e acadêmicos
dificultam uma única definição, transformou-se em uma verdadeira aula sobre a
história da economia brasileira nas últimas décadas e a apresentação do seu
modelo novo-desenvolvimentista.
O Conselho Editorial da Por Sinal espera, mais
uma vez, poder apresentar aos seus leitores um material interessante, buscando
fazer de nossa publicação um canal de informação importante, independente e
isento. Boa leitura!
SINDICATO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL (SINAL)
CONSELHO NACIONAL BIÊNIO 2017/2019
Presidente
Jordan Alisson Pereira
Belém
Reginaldo Bentes dos Santos
Brasília
Rita Girão Guimarães
Josina Maria de Oliveira
Renner Augusto Carmo Mascarenhas
Vania Maria Monteiro Couto
Belo Horizonte
Maria de Fatima Siqueira
Curitiba
Enrikson Antonio Falabretti
Fortaleza
Francisco de Assis Tancredi Soares
Porto Alegre
Gustavo Diefenthaeler
Recife
José Milton Bezerra
Rio de Janeiro
Sergio da Luz Belsito
José Aloísio Guimarães Sanches
Márcio Silva de Araújo
Nehemias Monteiro Junior
Salvador
Manoel da Cunha Filho
São Paulo
Iso Sendacz
Eduardo Stalin Silva
Natalino Yoshimi Sakamuta
DIRETORIA EXECUTIVA NACIONAL BIÊNIO 2017/2019
Presidente
Jordan Alisson Pereira
Diretor Secretário
Renner Augusto Carmo Mascarenhas
Diretora Financeira
Ivonil Guimarães Dias de Carvalho
Diretor Jurídico
Sergio da Luz Belsito
Diretor de Comunicação
Paulo Lino Gonçalves
Diretor de Assuntos Previdenciários
Márcio Silva de Araújo
Diretor de Relações Externas
Epitácio da Silva Ribeiro
Diretor de Estudos Técnicos
Daro Marcos Piffer
Diretora de Qualidade de Vida no Trabalho
Rita Girão Guimarães
Diretor de Ações Estratégicas
Gustavo Diefenthaeler
CONSELHO FISCAL NACIONAL BIÊNIO 2017/2019
Presidente
Ronaldo Ferreira (Curitiba)
Membros
Altino Almeida de Souza (Belém)
Ladislau Correa de Souza Neto (Rio de Janeiro)
EXPEDIENTE ANO 16 NÚMERO 57 JUNHO 2018
Por Sinal
Revista do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central do Brasil
Conselho Editorial
Daro Marcos Piffer, Edil Batista Júnior, Epitacio da Silva
Ribeiro, Jordan Alisson Pereira, Maria Juliana Zeilmann Fabris, Nehemias
Monteiro Júnior, Paula Castello Branco Teklenburg e Paulo Lino Gonçalves.
Conselheiros suplentes: Renato Fabiano Matheus e Ricardo Luis Piccoli
Secretária: Sandra de Sousa Leal
SCS Quadra 01 – Bloco G sala 401 – Térreo
Ed. Baracat – Asa Sul – Cep 70.309900 – Brasília – DF
Telefone: (61) 33228208
Contato com a Por Sinal: porsinal@sinal.org.br
Redação
Coordenação geral e edição: Flavia Cavalcanti (Letra Viva Comunicação)
Reportagem: Jefferson Guedes, Verônica Couto e Carmen Nery
Diagramação: Tabaruba Design
llustrações: Claudio Duarte
Impressão: Impressão: Ideal Gráfica e Editora Ltda
Tiragem: 8.000
Assessoria de Comunicação do Sinal Nacional: Rapport.
www.rapportcomunica.com
Permitida a reprodução das matérias, desde que citada a fonte.
O Conselho Editorial não se responsabiliza pelas opiniões expressas nos artigos assinados.

Reforma do Estado
O DESMONTE DO SERVIÇO PÚBLICO
ESTUDO DO BANCO MUNDIAL CRIMINALIZA O FUNCIONALISMO
PÚBLICO, RESPONSABILIZANDO-O PELA CRISE FISCAL DO ESTADO. ENTIDADES DOS
SERVIDORES REAGEM E APRESENTAM À SOCIEDADE CARTA DE PRINCÍPIOS PARA AS
ELEIÇÕES DE 2018.
JEFFERSON GUEDES
A vida vem em ondas, já diziam Lulu Santos e Nelson Motta. O
capitalismo também, com ciclos de expansão que se esgotam de tempos em tempos. É
comum então, no período das vacas magras, que as elites escolham um bode
expiatório.
O funcionalismo sabe bem o que é isso. Sempre que o governo levanta a bandeira
da austeridade, os servidores estão entre os primeiros que devem apertar seus
cintos. Este filme tão manjado ganhou uma nova versão em novembro passado,
quando o Banco Mundial divulgou o relatório “Um Ajuste Justo: Análise da
eficiência e equidade do gasto público no Brasil”.
Encomendado pelo governo federal, o documento joga nos ombros do serviço público
toda a responsabilidade pela ineficiência da máquina pública. O complicador é
que, desta vez, o governo está utilizando este relatório para sustentar suas
políticas públicas. O projeto de lei que limita o salário inicial do servidor,
por exemplo, já é ancorado nas conclusões do Banco Mundial sobre o “peso” da
folha do funcionalismo nas contas do governo. O relatório tem, portanto,
relevância política e está balizando o debate sobre o Orçamento da União.
“Este relatório pinta um quadro bastante duro do serviço público. Em mais de uma
centena de páginas, destaca quem é o inimigo: os servidores públicos.
Privilegiados, eles têm direitos demais e são os responsáveis pela crise fiscal
do Estado. O mesmo relatório reserva uma única página (isso mesmo, uma página)
para discutir a gestão da dívida pública. Basicamente, para dizer que é
impossível mexer no custo da dívida”, questiona Roberto Gonzalez,
secretário-executivo da Afipea (o Sindicato Nacional dos Servidores do Ipea).
Já que seria um erro concentrar a estratégia de ajuste fiscal nos custos da
dívida, como diz o documento, o Banco Mundial prefere seguir em outra direção
que atenda aos interesses do mercado. O relatório promove ataques aos programas
sociais, defende a cobrança de mensalidades nas universidades públicas e sugere
o fechamento dos hospitais regionais de pequeno porte por entender que eles são
uma das causas da ineficiência na prestação de serviços de saúde. Nada disso se
compara à ofensiva dirigida contra o funcionalismo, que o documento entende
estar repleto de “servidores ricos”.
A intenção é clara: o Banco quer oferecer à sociedade um novo modelo de
funcionalismo que forneça as bases para uma reforma do Estado. Tal postura está
alinhada com o projeto defendido por grupos neoliberais, que miram o fim da
estabilidade do servidor e o enxugamento da máquina pública e que hoje estão se
articulando para disputar as eleições presidenciais de outubro.
A resposta dos servidores
É, portanto, um movimento articulado, que vem ganhando força. Diante dessa
ofensiva, se fazia necessária uma reação mais forte das entidades
representativas. E esta reação veio.
“Foi entendimento da Associação dos Funcionários do Ipea, assim como do pleno do
Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado (Fonacate), do qual o
Sinal faz parte, que nós não poderíamos ficar apenas na defensiva”, afirma
Roberto Gonzalez. Assim nasceu o projeto “Que serviço público queremos?”, que
reuniu diversos pesquisadores da área da administração pública para oferecer um
contraponto ao relatório do Banco Mundial.
O resultado deste esforço foi apresentado na 5ª Conferência de Carreiras Típicas
de Estado, realizada em Brasília, em abril deste ano. Apresentamos, a seguir,
algumas das conclusões deste estudo, que analisou questões como o “inchaço na
máquina pública” e os “privilégios dos servidores, com seus altos salários” e o
modelo de serviço público pregado pelo Banco Mundial.
Tanto o relatório do Banco Mundial quanto o documento do projeto “Que serviço
público queremos” avaliam o tamanho do serviço público brasileiro, tomando como
referência a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).
Esse organismo reúne os países mais ricos e alguns emergentes, como México,
Chile, Coreia do Sul e Turquia.
(Ver gráfico 1, abaixo)
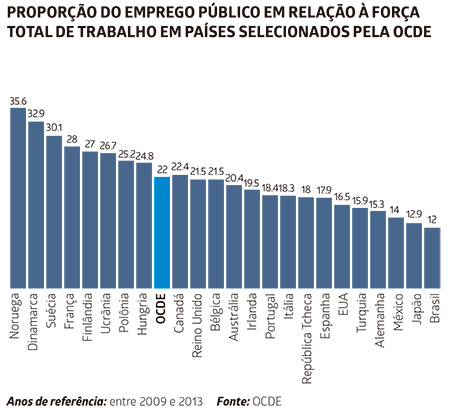
A barra azul clara no gráfico representa a média da OCDE.
Ela indica que, a cada cem pessoas empregadas neste grupo de países, 22% são
servidores públicos. No extremo esquerdo do gráfico, estão os países nórdicos,
que elevam a média da OCDE. Gonzales observa: “Os países com mais servidores,
curiosamente, são aqueles com melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).” A
simples leitura deste dado já levanta uma questão: por que não vemos a mídia
alardeando o “inchaço” da máquina estatal de Noruega e Dinamarca, países que têm
mais de um terço da população ocupada trabalhando no serviço público? Mesmo não
fazendo parte da OCDE, o Brasil aparece na última coluna, para efeito
comparativo. Nosso índice é de 12%, ou seja, a cada cem trabalhadores, 12 são
servidores. Proporcionalmente, o Brasil tem menos servidores que o México (14%),
um país que, em muitos aspectos, oferece serviços e proteção social inferiores
aos do Brasil. Então, que “inchaço” é esse?
O secretário-executivo da Afipea elenca algumas particularidades que explicam a
dimensão atual do serviço público brasileiro. Na esteira da expansão dos
direitos sociais determinada pela Constituição de 1988, por exemplo, houve
municipalização do emprego público e aumento da prestação de serviços nas áreas
de saúde, educação e serviços sociais. Não existe paralelo na América Latina com
o que ocorreu no Brasil nesse período. Tal fato contribuiu para que houvesse
maior demanda por servidores municipais.
“O maior custo de prover saúde, educação e assistência é treinar, remunerar e
capacitar o servidor que presta este serviço. Isso acontece no Brasil e em
qualquer lugar do mundo”, afirma Gonzales.
Ele faz um comparativo com os EUA, que nos ajuda a entender as carências do
Brasil. Os americanos têm mais funcionários públicos do que o Brasil (16,5% da
população ocupada é de servidores, dado que exclui os militares). Mas atenção:
lá não existe um sistema de saúde universal, como o SUS. Os EUA prestam
atendimento médico público para duas parcelas da população através de programas
específicos: o Medicaid (para pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza) e o
Medicare (para idosos). A maioria da população, que não pode usar esses
programas, fica na mão dos planos privados. Ainda assim, mesmo tendo menor
prestação de serviços públicos na área de saúde, os EUA têm mais servidores do
que o Brasil.
Demissões na era Collor
Há outro dado importante que precisa ser levado em conta para se entender o
tamanho atual da máquina pública: durante o governo Collor, o Brasil perdeu nada
mais, nada menos do que 110 mil servidores - a maioria por demissão. Foi um
baque. Quando assumiu, o ex-presidente Fernando Henrique iniciou uma tímida
recomposição do funcionalismo no primeiro mandato, mas preferiu a expansão de
terceirizados no segundo. A situação se agravou a tal ponto, com a persistência
de elevado número de terceirizados em situação irregular, que o TCU determinou
aos governos do PT que cuidassem da recomposição do funcionalismo. Esse
movimento foi bem mais forte nos anos Lula, que promoveram crescimento de 7,3%
no número de servidores civis ativos no primeiro mandato e de 4,8% no segundo.
Como dizia na época o secretário de Recursos Humanos do Ministério do
Planejamento, Sérgio Mendonça, a contratação de servidores promovida no governo
Lula foi uma tentativa de reverter a política de Estado Mínimo da era FHC.
Mesmo assim, utilizando um recorte ampliado entre 1991 (segundo ano do governo
Collor) e 2015 (início do segundo mandato de Dilma), constatou-se que o número
de funcionários públicos federais aumentou 9%, enquanto a população brasileira
cresceu 35% nesse período.
Como se vê, o tal inchaço do serviço público não bate com a realidade. O que
existe, segundo o professor Clóvis Bueno de Azevedo, do Departamento de Gestão
Pública da Escola de Administração de Empresas da FGV-SP, é uma distribuição
ruim dos servidores. Há desproporção, a seu ver, em três níveis: primeiro, entre
o número de funcionários alocados em áreas urbanas e rurais; em segundo lugar,
entre as capitais e o resto do país; e, finalmente, entre o número de servidores
atuando nas periferias e aqueles que estão nos centros metropolitanos. Quem
trabalha na Regional do Banco Central em Belém, que vive ameaçada de fechar por
falta de servidores, sabe bem do que estamos falando.
É verdade que o Relatório não investiu pesado na tese do “inchaço da máquina
pública”. O problema mesmo, segundo o Banco Mundial, são os altos salários dos
servidores públicos.
Mitos e realidade
Antes de promover este ataque, contudo, o documento faz uma afirmação
verdadeira: “Os salários do setor público são muito superiores aos pagos no
setor privado” (página 44). “Isso não é novidade”, pondera Gonzales. Para início
de conversa, o servidor público geralmente é uma pessoa mais escolarizada, tem
idade mais elevada e passa por um processo de seleção mais rígido, explica. Além
disso, essa diferença não é homogênea. “Quando nos debruçamos sobre certas áreas
de atividade, principalmente na prestação de serviços nas esferas estadual e
municipal, o que a gente vê é a inversão disso: o setor privado está pagando
mais para o mesmo tipo de ocupação (médico, professor).”
Há uma agravante aqui, pois o Banco Mundial comete o equívoco de analisar a
remuneração dos servidores pela média. Por que isso é um erro? Ora, é sabido que
existe uma grande desigualdade de salários no setor público. A diferença entre
os menores e maiores salários é relevante, assim como seu desvio padrão, isto é,
a dispersão de valores em relação à média. Partindo do princípio de que algumas
remunerações no setor público são valores “fora da curva”, se comparados aos
demais, é óbvio que a média é o pior parâmetro a ser adotado, por ser afetada
sensivelmente pelos valores extremos.
No Judiciário, por exemplo, os salários mais elevados puxam a “média”, tão
alardeada pelo Banco Mundial, para R$ 236 mil anuais, ou cerca de R$ 18 mil
mensais - considerando-se 13 salários ao ano. Convenhamos, esta não é a
realidade financeira da maioria dos servidores.
É verdade que o próprio Relatório do banco alerta (página 49) para este problema
metodológico: “Essas médias cobrem grupos bastante grandes e heterogêneos, e
muitos cargos públicos não são facilmente comparáveis a empregos no setor
privado.” Ora, se não é possível comparar a média de remuneração de um policial
federal com a de um segurança de shopping; se não dá para colocar na mesma
balança o salário de um procurador da Fazenda nacional com uma média que inclua
o salário de advogados recém-formados, por que o Banco Mundial insiste neste
tipo de análise?
 A
falta de critérios não para por aí. Na página 50, o Relatório afirma: “Parece
que mesmo os servidores menos qualificados recebem altos salários.” Citando o
Boletim Estatístico de Pessoal do Ministério do Planejamento, o banco destaca
que metade dos servidores federais encontra-se na faixa em torno de R$ 5 mil,
com muito poucos recebendo menos de R$ 2.500.
A
falta de critérios não para por aí. Na página 50, o Relatório afirma: “Parece
que mesmo os servidores menos qualificados recebem altos salários.” Citando o
Boletim Estatístico de Pessoal do Ministério do Planejamento, o banco destaca
que metade dos servidores federais encontra-se na faixa em torno de R$ 5 mil,
com muito poucos recebendo menos de R$ 2.500.
O conselheiro do Sinal e servidor do BC Nehemias Monteiro Jr. questiona essa
falta de critérios e chama a atenção para o fato de que “boa parte dos cargos
com escolaridade de nível elementar ou média foi descontinuada”. No caso das
seleções recentes, completa, “elas têm sido aprovadas com qualificação superior
à formalmente exigida, com formação universitária e/ou experiência profissional,
o que enfraquece a comparação do relatório”.
Para o Banco Mundial, este valor de R$ 5 mil é “muito alto para os padrões
brasileiros”, uma vez que o salário médio de todos os trabalhadores formais do
setor privado é de apenas R$ 1.924. O banco insiste neste diferencial
público/privado, com o objetivo de nivelar os salários por baixo. Ainda assim,
este expediente pode ser desconstruído facilmente, já que o tão propalado
diferencial aumenta em momentos de crise econômica – fato que não é culpa do
servidor. O secretário-executivo da Afipea explica o porquê:
“No setor privado, os salários médios reagem diretamente às flutuações
econômicas, enquanto no setor público eles apresentam maior rigidez. Isso
acontece porque o setor privado tem uma capacidade de ajuste maior. Ajuste aqui
entre aspas, pois significa demissão, rotatividade da mão de obra - com
substituição dos empregados que ganham mais por outros que recebem menos –, ou,
ainda, redução de salários. Mesmo considerando as perdas salariais no setor
público, este ajuste aumenta o diferencial entre os salários do setor público e
os do setor privado. E aí este diferencial está aumentando não porque o setor
público está ganhando mais; é o setor privado que está ganhando menos.
Existe um risco aqui. Os defensores da política de satanização do funcionalismo
podem apresentar o contra-argumento de que é necessário flexibilizar a estrutura
salarial do servidor, e sua estabilidade, para se adequar às oscilações do
mercado. Para rebater esta linha de raciocínio, é importante compreender que as
discrepâncias diminuem se forem ajustadas por níveis semelhantes de experiência,
atribuições, escolaridade, e considerando as dificuldades de estabelecer exata
correspondência das funções.
Estado Mínimo
Enfim, o grande projeto do Banco Mundial para o serviço público brasileiro é que
ele seja composto, em sua grande maioria, por servidores de menor escolarização,
mal remunerados e em vínculos precários com os órgãos públicos. Esta seria a
forma mais rápida de reduzir a média de salários do setor, aproximando-a daquela
registrada no setor privado.
Se implantado pelo governo, este modelo comprometeria significativamente a
qualidade dos serviços públicos. Além disso, seria um movimento oposto ao vivido
pelo Estado brasileiro desde a Constituição de 1988, e intensificado a partir do
governo Lula, quando a máquina pública passou a valorizar cada vez mais o
servidor com formação universitária. Este tema foi abordado com profundidade na
palestra “Gestão de pessoas públicas”, apresentada por Fernando Filgueiras,
diretor da Escola Nacional de Administração Pública (Enap), durante a 5ª
Conferência, promovida pelo Fonacate. Filgueiras apresentou o gráfico a seguir,
que mostra a evolução do grau de escolaridade no Executivo federal entre 2002 e
2018.
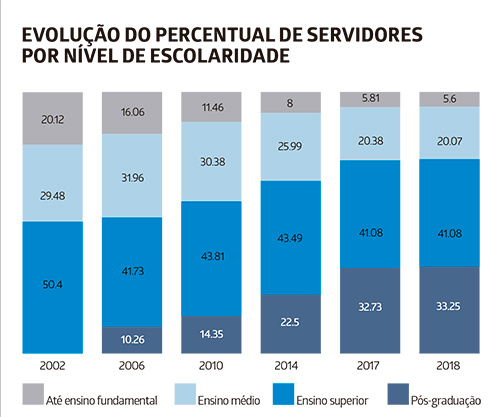
Analisando os dados do gráfico, o diretor da Enap chama a atenção para o aumento
significativo do servidor qualificado com pós-graduação e, também, para o
comparativo entre as duas pontas do gráfico. Em 2002, 50,4% dos servidores
federais tinham formação superior. Em 2018, este número saltou para 74,3%. “A
gente percebe que existe, de fato, tanto uma política de captação de melhores
quadros, no que diz respeito aos concursos públicos, quanto uma política de
capacitação dos diferentes órgãos do serviço público”, avalia. “Maior número de
servidores públicos com ensino superior proporciona um aumento das capacidades
do Estado para implementar políticas públicas”, acrescenta.
A maior capacitação se dá em paralelo a uma questão estrutural que, segundo
Filgueiras, perpassa o serviço público: as desigualdades nos âmbitos de
carreiras. Os dois números abaixo expõem o problema:
-
60% dos servidores públicos com menores salários correspondem a 37% do volume da folha de pagamento do Poder Executivo.
-
20% dos servidores com maior remuneração correspondem a 40% do montante da folha de pagamento.
A leitura desses números mostra que o problema não está nos “altos salários”, e
sim na baixa remuneração de 60% dos servidores. E como se enfrenta esta
desigualdade? Com a valorização do funcionalismo, entendida aqui como premissa
para uma melhor qualidade do serviço público ofertado à população.
Com esta perspectiva, o Fonacate elaborou uma Carta de Princípios, divulgada em
maio, com o objetivo de influenciar as eleições de 2018. A estratégia política
da entidade parte da constatação de que sendo mais de 12 milhões em todo o país,
os servidores não podem ser ignorados por nenhum partido.
O candidato que subscrever o documento assumirá o compromisso de cumprir, caso
seja eleito, os objetivos centrais de fortalecimento do Estado democrático de
direito, valorização dos servidores e qualificação dos serviços públicos.
Constam da pauta, também, a revisão da Emenda Constitucional 95/2016 (que
estabelece o teto dos gastos), a diminuição dos cargos de livre nomeação e a
ampliação da participação de concursados em funções estratégicas. Finalmente, há
propostas de clamor nacional, como um sistema tributário progressivo, que reduza
os impostos sobre o consumo, a tributação de distribuição de lucros e dividendos
e a correção efetiva da tabela do Imposto de Renda.
Voto consciente
O Fonacate pretende fazer muito barulho em torno da Carta de Princípios, que faz
parte da campanha pelo voto consciente do servidor público, a ser lançada em 5
de julho, na Associação dos Fiscais de Renda em São Paulo (Afresp). “O que se
pretende é que essa aliança fortaleça os servidores. Também é nosso propósito
continuar parcerias com parlamentares que tradicionalmente são nossos aliados”,
afirma Rudinei Marques, presidente do Fonacate.
Nas últimas eleições gerais, a entidade já havia realizado um encontro com os
candidatos à Presidência. “A novidade, neste pleito, dentro dos limites da
legislação eleitoral, é que vamos organizar eventos e dar destaque a
candidaturas que defendam nossas pautas principais”, informa o presidente do
Fórum.
O Sinal também está participando ativamente deste movimento. No último dia 15 de
maio, o presidente da entidade, Jordan Pereira, e o diretor de Estudos Técnicos,
Daro Piffer, marcaram presença na assembleia-geral em Brasília, que definiu o
encaminhamento dos pleitos dos servidores junto aos postulantes a cargos
eletivos. O Sindicato divulgou nota na qual repudia o Relatório do Banco
Mundial:
“Fica cada vez mais evidente que a declarada campanha governamental contra o
servidor público, repercutida com estardalhaço pelos grandes órgãos da imprensa,
imputando privilégios onde enxergamos direitos, rasgando a Constituição Federal
ao suspender reajustes salariais legalmente concedidos e aumentar a contribuição
previdenciária, que passa a ser arbitrariamente progressiva, sem qualquer
consideração de caráter técnico a ampará-la, é fruto de uma conspiração, de modo
a enfraquecer o Estado brasileiro e os serviços públicos que atendem diretamente
o cidadão.”
A nota acrescenta que, diante dos ataques advindos das mais diversas frentes, a
unificação de cronogramas de atuação se torna fator preponderante para a defesa
do servidor público.
O projeto “Que serviço público queremos?” e a Carta de Princípios para as
eleições de 2018 são os primeiros frutos deste esforço conjunto das entidades
que representam os servidores brasileiros. E não vai parar por aí. Porque é
preciso, de fato, muita união para enfrentar a ação organizada das elites que
buscam privatizar o Estado brasileiro totalmente.
|
|
Crise Fiscal
“SECURITIZAÇÃO” DAS DÍVIDAS ESTATAIS
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR QUER LEGALIZAR A VENDA DO
DIREITO SOBRE CRÉDITOS DA UNIÃO, DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS.
VERÔNICA COUTO
Governadores e prefeitos pressionam
deputados para aprovar na Câmara o Projeto de Lei Complementar 459/17, que
autoriza estados, municípios e a União a venderem o direito sobre créditos
que tenham a receber, de origem tributária ou não (como é o caso, por
exemplo, dos créditos resultantes de privatizações). No inicio de abril, o
presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), encontrou-se com os
governadores do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg; de Minas Gerais,
Fernando Pimentel; do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão; do Piauí,
Wellington Dias; e o vice-governador de Goiás, José Eliton. Na mesa, a
discussão do Projeto de Lei, de autoria do senador José Serra (PSDB-SP), que
aguarda o parecer do relator na Comissão de Finanças e Tributação (CFT),
deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR), para depois ser analisado pela
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania e, por fim, submetido à
votação em Plenário.
Para esses governadores, a “securitização” das dívidas, ou seja, sua
transformação em títulos a serem negociados, é uma alternativa para levantar
recursos no curto prazo, sem os limites legais ao endividamento estatal e,
no caso da União, às restrições do Novo Regime Fiscal, também conhecido como
Teto dos Gastos.
O diretor de Estudos Técnicos do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central (Sinal), Daro Piffer, acredita que, de fato, a cessão de direitos sobre créditos “pode ser um instrumento para os governos conseguirem dinheiro mais rapidamente”, mas o PLP 459, na redação atual, apresenta problemas, especialmente no que se refere às formas de controle externo das operações. “Com relação ao princípio, o Sinal não é contra. Seria preciso, porém, acrescentar-lhe algumas salvaguardas não previstas no texto”, questiona.
INTERMEDIÁRIAS SEM CONTROLE
O projeto também recebeu críticas de
representantes de entidades como a Auditoria Cidadã da Dívida (ACD), o
Sindicato dos Procuradores da Fazenda (Sinprofaz) e a Associação Nacional
dos Auditores Fiscais da Receita (Anfip). Segundo esses especialistas, a
transferência dos depósitos referentes à arrecadação tributária do poder
público para bancos ou fundos privados pode levar os governos a grande
endividamento e à perda do controle sobre a gestão dos orçamentos públicos.
A Frente Parlamentar Mista pela Auditoria da Dívida Pública com Participação Popular reuniu-se em março para discutir o PLP e estratégias para impedir a sua aprovação. “Imagina que uma pessoa faz uma compra a crédito, em 12 parcelas descontadas diretamente do seu salário, na folha de pagamento, e o banco ainda recebe um ágio, que pode chegar a 60%. É isso que o PLP 459 faz com a arrecadação dos créditos dos estados ou municípios”, afirma o senador João Capiberibe (PSB-AP), presidente da Frente Parlamentar. Ele chama a atenção para o fato de a proposta não estabelecer qualquer limite para o ágio acordado com o banco, além de pretender legalizar a cessão dos créditos já negociados e com garantias de que serão pagos, geridos por um modelo de estatal não dependente, criada com propósito específico, que não está sujeita a nenhum tipo de controle. “Os governos vão negociar créditos que eles têm certeza de que vão receber, dando uma parte para essas empresas sem controle, e o grosso para o banco, que ainda cobra o ágio astronômico para receber um dinheiro certo.”
Estabelecer um limite a priori para o desconto no valor da dívida, contudo, pode ser muito difícil, explica Daro. “Se compararmos dívidas de impostos não pagos de corporações que já saíram do mercado, como a Varig, por exemplo, com aquelas de empresas que estão faturando e em operação, é claro que os riscos de não recebimento são diferentes, muito maiores no caso das empresas que já fecharam. Não podem, assim, serem negociadas pelo mesmo valor.”
Para evitar abuso no deságio, o diretor do Sinal propõe que o projeto impeça a cessão dos direitos sobre os créditos para qualquer pessoa jurídica de direito privado, permitindo as operações “única e exclusivamente” com fundos de investimentos criados para esse fim, para garantir maior governança e transparência.
Ele destaca que a venda de dívidas é uma atividade “normal” no sistema financeiro privado. “Alguém tem uma dívida a receber, mas precisa do dinheiro antes do prazo de vencimento, como ocorre com uma duplicata de 30 dias. Pode vender o direito de cobrar essa dívida para um banco, recebendo por isso um adiantamento, com deságio, em função do adiantamento e da transferência do ônus de cobrar a duplicata”. Mas, quando esse processo envolve direitos de créditos muito altos, diz Daro, é realizado por meio de um fundo específico, o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC). Esses fundos envolvem risco e são destinados aos chamados investidores qualificados, com investimento mínimo a partir de R$ 25 mil e patrimônio declarado de R$ 1 milhão aplicados.
“No caso do PLP 459, o governo deveria autorizar a criação de fundos de investimento em direitos creditórios públicos, um FDIC de dívida pública, para não misturar dinheiro público com privado, e deixar claro para o investidor que aquele fundo é todo formado por dívida pública”, afirma o diretor do Sinal. Ao contrário das “empresas estatais não dependentes”, que não estão sujeitas a controle externo, os fundos são regulados e fiscalizados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), e seus recursos só podem ser utilizados para pagar despesas inerentes à atividade básica de comprar e vender os direitos dos créditos. Outras despesas ficam por conta do seu administrador.
Permitir que a cessão de direitos creditórios seja feita por meio de sociedade de propósitos específicos, como está no projeto, é “onde mora o perigo”, alerta Daro. Ele lembra que a crise de 2008 surgiu de empresas desse tipo, criadas pelos bancos para negociarem títulos referentes aos seus empréstimos habitacionais. “Os bancos emprestavam para o sistema habitacional, sem critério. Quando tiveram problema de não pagamento, para limpar seus balanços, criaram essas sociedades de propósito específico, que compravam as dívidas – que dificilmente seriam pagas – e lançavam debêntures baseadas nelas, com prazos mais longos de vencimento. Em algum momento, essas sociedades não tiveram mais como pagar os investidores e os bancos puderam bancar as garantias. Ou seja, a ocultação da inadimplência por meio da transferência das dívidas para as sociedades de propósito específico foram as grandes responsáveis pela crise.”
BLINDAGEM JURÍDICA
A “securitização” da dívida já vem sendo feita em cidades como Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, Salvador, Nova Iguaçu e nos estados de Goiás, São Paulo, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro. Em todos esses casos, as empresas estatais criadas para gerir o processo enfrentaram ações judiciais, questionamentos ou vetos dos órgãos reguladores – Ministério Público de Contas e tribunais de contas estaduais.
A PBH Ativos, da prefeitura da capital mineira, por exemplo, além de receber apontamentos do Tribunal de Contas de Minas Gerais, foi investigada em uma CPI na Câmara dos Vereadores, que encerrou seus trabalhos sem conseguir aprovar relatório final, tantas as divergências entre os parlamentares (ver box abaixo). No estado do Rio, a Companhia Fluminense de Securitização (CFSEC), criada em outubro de 2015, suspendeu seu programa de securitização devido a uma ação civil pública ajuizada em novembro de 2017 pelo MPRJ, por intermédio do Grupo de Atuação Especializada no Combate à Sonegação Fiscal e aos Ilícitos contra a Ordem Financeira, Tributária e Orçamentária (Gaesf/MPRJ). E problemas de natureza similar têm ocorrido com quase todas as empresas à frente dessas operações.
Para a coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lucia Fattorelli, o PLP 459/17 mascara a transferência de recursos públicos para bancos privilegiados. Os governos, em sua opinião, perdem o poder de gestão sobre seus orçamentos e o controle sobre a arrecadação, não podendo mais aplicar o dinheiro dos impostos de acordo com as prioridades e critérios definidos pela política pública e pela necessidade das comunidades. “O dinheiro deixa de seguir diretamente para os cofres públicos, o que é um desrespeito a toda a Constituição Federal, à Lei de Responsabilidade Fiscal, ao Código Tributário e a todas as leis orçamentárias que estão estruturadas no princípio orçamentário”, declara.
Nesse sentido, a justificativa do projeto do senador José Serra (antigo PLS 204/2016) reconhece que seu objetivo é blindar juridicamente a engenharia financeira da securitização, alterando a Lei 4.320/64, que regulamenta os orçamentos públicos. “Com isso, as operações de cessão de direitos creditórios, que hoje já são efetuadas por alguns estados e municípios, ganharão maior segurança jurídica.” Em entrevista ao Portal do Senado, ele afirmou acreditar que as operações não constituem empréstimos, mas admitiu que “ainda há controvérsia a esse respeito”.
BARREIRA LEGAL
São muitas as normas que fazem parte dessa controvérsia. A Lei 9.496/97(?), que trata dos orçamentos públicos, proibiu os entes públicos de emitir títulos da dívida no mercado; a Lei de Responsabilidade Fiscal, de assumir diretamente compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada mediante emissão de título de crédito; e uma Resolução do Senado (nº 43/01) criou restrições específicas para a cessão dos direitos sobre os créditos de estados e municípios. Por isso, para tentar superar a barreira legal, o Projeto de Lei classifica a cessão de direitos sobre os créditos como uma venda definitiva de patrimônio público, e não como uma operação de crédito, entendimento que tem prevalecido até agora.
“Na prática, cria-se uma empresa estatal para gerir os ativos que serão vendidos, servindo de fachada para uma operação financeira que vai comprometer os estados, mas sem ser contabilizada como dívida”, explica Maria Lucia Fattorelli. “Pela Lei de Responsabilidade Fiscal, é crime. Qual ativo está sendo vendido?”, questiona. Para ela, o projeto pretende legalizar o desvio de recursos públicos e a contratação irregular de dívida pública – porque, embora a transferência do direito sobre os créditos seja contabilizada como venda de ativos, esses “ativos” são a própria arrecadação fiscal.
 O
Sinprofaz não acredita que o projeto vá acelerar a cobrança de créditos,
como argumentam seus defensores. Ao contrário, afirma, em nota aprovada em
assembleia da entidade, que “o PLP 459/2017 permite o desvio do fluxo da
arrecadação tributária durante o seu percurso pela rede arrecadadora;
viabiliza a realização de operação de crédito ilegal; compromete com
vultosas garantias públicas as finanças atuais e futuras dos entes federados
e, adicionalmente, provoca danos financeiros e perdas efetivas, conforme
comprovado durante a realização de CPI na Câmara Municipal de Belo
Horizonte.”
O
Sinprofaz não acredita que o projeto vá acelerar a cobrança de créditos,
como argumentam seus defensores. Ao contrário, afirma, em nota aprovada em
assembleia da entidade, que “o PLP 459/2017 permite o desvio do fluxo da
arrecadação tributária durante o seu percurso pela rede arrecadadora;
viabiliza a realização de operação de crédito ilegal; compromete com
vultosas garantias públicas as finanças atuais e futuras dos entes federados
e, adicionalmente, provoca danos financeiros e perdas efetivas, conforme
comprovado durante a realização de CPI na Câmara Municipal de Belo
Horizonte.”
Também para a auditora-fiscal Rita Felicetti, colaboradora da Anfip, o modelo proposto pelo PLP 459 representa o endividamento de municípios e estados “ao permitir a criação de estatais não dependentes que vão emprestar ao ente público um dinheiro imediatista; enquanto o ente público dá como garantia a sua arrecadação futura”.
O diretor de Estudos Técnicos do Sinal discorda de que a operação envolva orçamento futuro, uma vez que as dívidas negociadas são aquelas já vencidas. “O fluxo realmente passa a não ser mais do governo. Passa para o investidor. Há captura do fluxo, mas apenas do que já deveria ter sido pago em exercícios anteriores.”
Ele reconhece, contudo, que governantes
poderiam relaxar na cobrança das dívidas de modo a provocar as operações de
securitização, com o objetivo de obterem recursos a curto prazo. Nesse
sentido, Daro defende a restrição da cessão dos créditos às dívidas de
governos anteriores. Outra medida protetiva seria impedir que as operações
sejam realizadas no período de 90 dias que antecedem o final dos mandatos
Executivos, exatamente para não comprometer a renda futura dos sucessores
eleitos.
O PLP 459 erra, ainda, diz Daro, ao assegurar à Fazenda Pública a
prerrogativa de cobrança judicial ou extrajudicial dos direitos cedidos,
conforme se lê no inciso terceiro, do artigo 1. “Por que a Fazenda teria que
cobrar a dívida? Quem a comprou que cobre. Há nesse ponto uma espécie de
garantia da dívida, que o poder público não deveria conceder.”
COMO FUNCIONA
A “securitização” prevista no PLP/459 se estrutura em um triângulo, do qual participam o ente público (prefeitura, governo do estado ou União), dono dos créditos a receber, a instituição financeira que for comprá-los na forma de títulos e uma empresa estatal “não dependente” (ou seja, não pode receber aportes do governo), que fará a mediação do negócio. Formalmente, o objetivo dessa estatal é gerir os ativos públicos, no caso, as debêntures relacionadas à cessão dos créditos, que, para serem emitidas, precisam de um agente financeiro – e nada impede que a mesma instituição que lance os títulos também os compre, como aconteceu na PHB Ativos, com o BTG Pactual. O projeto não exige licitação para a seleção desse banco ou fundo de investimento – fica a critério da prefeitura ou do estado.
O projeto inclui todas as dívidas vencidas dos governos, tributos ou de outra natureza, como privatizações, inclusive as que estão na Dívida Ativa e as que foram renegociadas. “No parcelamento dos créditos, o contribuinte assina uma confissão irretratável de dívida – não pode desistir; se parar de pagar, os bens são executados, razão por que o governo promove consecutivos programas de refinanciamento (os Refis)”, pondera a coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida. O que daria maior segurança e qualidade a esses créditos.
Normalmente, milhares de contribuintes pagam seus impostos ou dívidas na rede bancária, que, no dia seguinte, é obrigada a repassar o total recebido para o banco no qual o ente público tem conta. Na operação de securitização, o estado ou a prefeitura cria uma conta vinculada à empresa estatal aberta para este fim, que, por regra de contrato, pode ser acessada exclusivamente pelo investidor. De acordo com os termos negociados, é o banco privado que vai dar ordem para repassar uma parte ao poder público e reter o que lhe é devido.
“As informações dessa conta vinculada são sigilosas, e os recursos ficam fora do orçamento público, um privilégio inaceitável para os bancos. Toda a legislação de finanças está sendo aviltada”, acredita a coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida.
Segundo estimativas feitas pelo senador
José Serra, em entrevistas no portal do Senado, a cessão de direitos de
crédito sobre a dívida ativa representaria uma receita de R$ 110 bilhões
para a União, e de R$ 25 bilhões, no caso das dívidas com os estados. Ele
não estimou, contudo, quanto vai representar em ganhos para as instituições
financeiras.
|
A prefeitura de Belo Horizonte criou a PBH Ativos em 2011, para cuidar dos contratos de parcerias público-privadas do município, ou gestão de ativos estatais, realizando, além disso, captação de recursos por meio da emissão de debêntures, ou seja, títulos de dívida garantidos.
Em 16 de maio de 2017, a CPI foi instaurada para analisar os impactos para o orçamento público e a legalidade das suas operações. Surgiu então o movimento #SomosTodosContraAPBHAtivos, formado pela Auditoria Cidadã da Dívida; Indisciplinar – Grupo de Pesquisa da Faculdade de Arquitetura da UFMG; Movimento das Associações de Moradores de BH; e Brigadas Populares, que acompanhou os trabalhos da comissão.
O BTG Pactual, escolhido por sua “expertise”, foi que fez a operação da PBH Ativos. “Quando as debêntures foram colocadas à venda, pagando juros abusivos, da ordem de 23% ao ano, e com garantia estatal, o próprio BTG Pactual comprou todas elas, pagando para a PBH Ativos”, explica Maria Lucia Fattorelli, que estudou a fundo os documentos obtidos pela estatal. No período investigado, de 2014 a 2017, a transferência de recursos em favor do BTG Pactual somou R$ 259,96 bilhões, cifra bem superior aos R$ 200 milhões recebidos pelo município, em abril de 2014. Com o detalhe de que ainda faltam quatro anos para o encerramento do prazo previsto (sete anos) para a operação, envolvendo um compromisso total com o banco, de R$ 880 milhões, e a cessão dos direitos de metade de todos os créditos parcelados.
Nesses três anos e dois meses, o total de créditos tributários arrecadados chegou a R$ 531,45 milhões, mas apenas R$ 262,16 milhões (49,33%) ingressaram nos cofres do município de Belo Horizonte. A isso se somaram R$ 200 milhões da captação de recursos, por meio da venda das debêntures sênior, com juros de 23% ao ano e prazo de sete anos, custo considerado elevadíssimo pela coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida, que qualificou a operação como um empréstimo disfarçado. Da outra parte, no valor de R$ 269,28 milhões, a maior fatia (R$ 259,96 milhões) foi transferida para o Banco BTG Pactual, e o restante (R$ 9,321 milhões ou 1,75%) ficou para a PBH Ativos S/A (ver gráfico abaixo). Com base nesses números, a CPI apontou que, no período, o município de BH teve uma perda de cerca de R$ 70 milhões, total da diferença entre os R$ 531,4 milhões arrecadados, que poderiam ter ido integralmente para o caixa, e os R$ 462 milhões, que, efetivamente, ingressaram nos cofres públicos.
“Sem essa operação, a prefeitura teria R$ 70 milhões a mais em caixa, que poderiam ter sido utilizados em investimentos nas áreas da educação, saúde, transporte público”, lamenta a coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida. |
|
Há 17 anos especializada em dívida pública, Maria Lucia Fattorelli participou do comitê pela auditoria da dívida grega, a convite do Syriza, e aponta semelhanças com o mecanismo utilizado naquele país pelos bancos. “Isso vem pronto de fora, do mercado internacional, e vai representar trilhões em perdas”, diz. “No caso grego, todo mundo já sabia que a crise era para salvar os bancos, mas não achava o mecanismo que estava sendo utilizado. Lá, em vez de criar uma empresa para cada ente federado, 17 países se associaram a uma empresa no paraíso fiscal de Luxemburgo. A tragédia grega esconde o segredo dos bancos privados internacionais.” Segredo muito bem escondido, que a auditora só conseguiu revelar depois de localizar os contratos relativos aos títulos de estabilização europeia (fazendo o papel aqui atribuído às debêntures), numa biblioteca virtual da Irlanda.
Fattorelli lembra que a ex-presidente Dilma Rousseff foi impedida porque fez um mero adiantamento de recursos do Banco do Brasil para programas sociais, e isso foi considerado contratação de crédito irregular. “Pois a operação prevista no PLP/459 é muitíssimo mais grave”, diz. “Trata-se de transferência de propriedade – alienação fiduciária – do fluxo de arrecadação de tributos. O dinheiro que os contribuintes pagam é entregue aos bancos privilegiados, um escândalo.” |
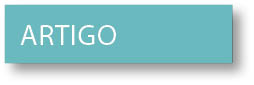
QUERIDA, ENCOLHI A CONSTITUIÇÃO
Edil Batista Junior
O art. 16 da Declaração dos Direitos dos Homens e do Cidadão (DDHC), de 1789, afirma que em "Toda sociedade que a garantia dos direitos não está assegurada nem a separação dos poderes determinada, não há em absoluto constituição". Referido artigo, cuja invocação é lugar comum nos tratados de Direito Constitucional, constitui um dos primeiros postulados para o fenômeno da positivação das leis, mas não define especificamente o que vem a ser a Constituição. Para tal compreensão, é preciso ter em mente que, sob o ponto de vista formal, a Constituição é uma norma. Mas não uma norma qualquer, senão a fundamental, que materializa a validade e a unidade de uma dada ordem jurídica hierarquicamente estruturada. Como ensinou o filósofo italiano Norberto Bobbio, a Constituição vem a ser a própria estrutura de uma comunidade política organizada. Ela é a ordem necessária que deriva da designação de um poder soberano e dos órgãos que o exercem.
Infere-se daí que a Constituição é o documento que consubstancia a tentativa de construção de um projeto racional de conformação social. Superada a crença de que a organização política do Estado dependeria de ingerências do poder divino, o homem moderno, bastante em si mesmo, decidiu por estabelecer as condições da coexistência social. Nesse contexto de laicização do conhecimento jurídico-político, substitui-se a ideia de Deus pela ideia de Nação, na justificação e legitimação da Constituição. E como pressuposto necessário ao novo modelo de organização social, limitou-se o poder da autoridade governante, por meio de duas ações fundamentais: a separação dos poderes e a declaração de direitos fundamentais do homem.
Foi o Estado Moderno, portanto, sobretudo após as revoluções burguesas do final do Século XVIII, que criou a noção de Constituição como corpo de leis consagradas em documento escrito, hierarquicamente superior às leis ordinárias, no bojo de uma luta que envolvia monarcas, autoridades religiosas e a aristocracia feudal. Não se deve olvidar, contudo, que, naquele momento histórico, culminando o espírito liberal burguês, o Estado se limitava à condição de espectador da vida social, com a missão primordial de resguardar a liberdade individual, em especial a econômica. Consequentemente, a ideia originária da Constituição, em sua concepção orgânica, limitou-se a detalhar a estrutura estatal e a preservar determinados direitos civis e políticos.
Além disso, a DDHC era mais promessa que realidade. E o que se verificou dos textos constitucionais europeus emergentes (com exceção da Constituição da Bélgica de 1832) foi a absoluta ausência de concretização dos direitos fundamentais prenunciados. Esse fato aponta que a falta de efetividade das normas sempre foi o maior problema dos documentos que consagram direitos. Como se percebe, ainda que consideradas como um sistema de normas e princípios, regulador e institucionalizador do fenômeno jurídico-político, as constituições escritas sempre careceram, para suas concretizações, da intervenção do Judiciário, tendo como parâmetro as declarações de Direito do homem.
Tal situação pode ser compreendida pelo raciocínio de que pragmaticamente considerado, o conteúdo da Constituição integra valores de duplo sinal: os decorrentes das estruturas políticas dominantes no momento de sua elaboração (ou seja, do próprio modelo de Estado vigente) e os correspondentes às outras estruturas (dentre as quais, a Sociedade Civil). Nessa coexistência de valores reside a dimensão ideológica da Constituição, que estabelece o marco fundamental do distanciamento entre texto e sociedade. A dissociação entre promessa normativa e realidade social proporciona que as normas constitucionais se tornem meras peças alegóricas a refletir a imposição de preceitos e estigmas, nomeadamente nos países economicamente periféricos, como o Brasil. Apartados da praxis social, os comandos perdem seu teor democrático e seu viés cogente, espírito que deve marcar o fenômeno constitucional.
Como é sabido que o Estado historicamente falha nos serviços e prestações sociais e econômicas que oferece à sociedade, o legislador constituinte busca garantir, no papel, direitos sob a forma de programas políticos, perdendo a Constituição sua juridicidade. O recurso às normas programáticas, que pretendem reconciliar Estado e Sociedade, deslocou o eixo de rotação das Constituições nascidas durante a segunda fase do liberalismo, as quais entraram em crise. Uma crise que culminou com as incertezas e paroxismos da Constituição de Weimar, onde se fez, por via programática, grande abertura para os direitos sociais. Positivando-se direitos em normas programáticas, desestimulam-se as lutas sociais. A construção teórica que permite o estabelecimento desse modelo de normas tem, dessa forma, caráter reacionário, pois ergue obstáculos à funcionalidade do Direito e ao poder de reivindicação das forças sociais. O que teria a sociedade a reivindicar já está contido na Constituição. E como ensina Celso Ribeiro Bastos, não se dando conta da inocuidade da contemplação desses direitos sem garantias, a sociedade acomoda-se, alentada e entorpecida pela perspectiva de que esses mesmos direitos um dia venham a ser realizados. A efetividade das normas programáticas depende essencialmente de fatores políticos. E é o próprio Estado que decide sobre a urgência dessa aplicação.
Nesse cenário, aponta-se a necessidade da concretização da promessa constitucional por meio de uma magistratura socialmente engajada, seja em virtude do caráter meramente proclamativo dos textos existentes, seja em face da inação do administrador ou do legislador ordinário. No caso brasileiro, a dimensão dessa inação é constatada quando, passados 30 anos da atual Constituição, há, ainda, cerca de cem dispositivos carecendo de regulamentação para seu pleno exercício, destacando-se, aí, a efetiva regulação do sistema financeiro nacional, tema sensível e urgente. Essa regulação materializa a ideia de uma Ordem Constitucional Econômica, que estabelece a estrutura do sistema econômico do Estado, bem como determina concretamente o regime econômico. O texto original da atual Constituição brasileira, no rastro de uma perspectiva socialdemocrata, pretendeu a construção de um sistema financeiro nacional inclusivo, prevendo até mesmo a limitação da taxa de juros aplicada pelos atores financeiros.
Afirmou a Constituição, dita cidadã, que “As taxas de juros reais, nelas incluídas comissões e quaisquer outras remunerações direta ou indiretamente referidas à concessão de crédito, não poderão ser superiores a doze por cento ao ano; a cobrança acima deste limite será conceituada como crime de usura, punido, em todas as suas modalidades, nos termos que a lei determinar”. Essa limitação, contudo, jamais foi efetivada, tendo sido retirada do texto em 2003. O Supremo Tribunal Federal, a quem incumbe o papel de interpretar, em última instância, as normas constitucionais, jamais admitiu a aplicação direta dessa limitação aos casos concretos, sob a alegação de que ela careceria de regulamentação (como se tal regulamentação, por norma infraconstitucional, tivesse o condão de estabelecer patamar de juros superior àquele expressamente determinado pelo constituinte de 1988).
Esse exemplo demonstra que, por trás da aparência progressista da Constituição, esconde-se, muitas vezes, uma insinceridade normativa. Caberia ao STF estar atento a essa realidade. Ao perceber que muitos dos dogmas constitucionais consagrados são mais instrumentos persuasivos que realidade social, a Corte deveria reagir, quando provocada, para concretizar os direitos sociais, econômicos e, sobretudo, individuais, jamais para negá-los. Normas constitucionais não regulamentadas, como as que pretenderam a formação de um sistema financeiro menos selvagem, se tornam falácias ideológicas. A superestrutura econômica frequentemente cria e reproduz desigualdades no subsistema social, nos aspectos classe, gênero e etnia, demonstrando que a igualdade formal assegurada pela Constituição não corresponde à igualdade material. Essa ficção de isonomia proporciona que, na apreciação de determinado fato jurídico, sejam utilizados pesos e medidas diferentes na aplicação da lei. Ora, se a igualdade jurídica que a Constituição pretende assegurar não encontra paralelo no dia a dia, então a ordem jurídica não estabelece a igualdade que alardeia.
Para se ter ideia de como o STF perdeu uma excelente oportunidade de fazer valer o texto constitucional, efetivando um direito que, sem dúvida, iria ao encontro dos anseios sociais, nomeadamente das classes menos favorecidas, sufocadas por juros escorchantes praticados pela banca nacional, aquele Tribunal, em 2007, concluiu o julgamento de três mandados de injunção impetrados por sindicatos de servidores públicos, onde se buscou assegurar o pleno exercício do direito de greve estabelecido no art. 37, VII, da CF/88, até hoje também não regulamentado. O STF foi favorável aos pedidos e estabeleceu a solução para a omissão legislativa com a aplicação analógica da Lei 7.783/89, que regulamenta o exercício do direito de greve na iniciativa privada. Ou seja, exercendo seu papel de guardião da Constituição, aquela Corte asseverou que as normas constitucionais, mesmo as não regulamentadas, têm poder normativo, que deve ser respeitado. Por que razão o STF não agiu com a mesma autoridade para enfrentar o capital, efetivando a limitação dos juros bancários?
Constatações como essa despertam na sociedade um acentuado questionamento axiológico acerca do valor da Constituição, de suas funções, e do próprio papel do STF, fruto de movimentos sociais que passam a desafiar a rigidez lógico-formal do sistema jurídico, em um cenário desfavorável ao modelo de pensamento do Direito puramente dogmático. Organizações populares, sindicais, comunitárias etc., mediante a politização de questões aparentemente técnicas, criam fatos novos reivindicando direitos que abrem portas a práticas judiciais inovadoras e verdadeiramente progressistas.
Em resumo, pode-se concluir que uma acurada análise da história do direito Constitucional permite perceber os avanços alcançados pela sociedade no campo jurídico com esse instrumento. Por outro lado, também revela a existência de normas que tão-somente materializam declarações bem intencionadas, com o nítido propósito de recusar eficácia e aplicabilidade às proposições cujas existências servem, quando muito, para emprestar um viés axiológico. Essa situação nos coloca a um passo do ativismo judicial, para o bem ou para o mal, sintetizando o sentimento de frustração constitucional na sociedade, em razão do permanente distanciamento entre o mundo normativo e o mundo real que, no caso brasileiro, permanentemente, faz encolher a sua já combalida Constituição.
(*) Professor da Uninassau/Recife. Doutor em Teoria Geral do Direito pela UFPE e conselheiro editorial da Por Sinal.
TRIBUTAÇÃO SOLIDÁRIA
Menos desigualdade, mais Brasil!
Estudo elaborado por mais de 40 especialistas propõe
inverter a lógica do atual sistema tributário brasileiro. Ideia é apresentar
a proposta de reforma aos candidatos à Presidência da República.

Resultado do trabalho de mais de 40 especialistas, o movimento “Reforma Tributária Solidária, - Menos Desigualdade, Mais Brasil” prepara uma proposta de transformação do sistema tributário brasileiro, que combata a enorme desigualdade social do país. Para isso, defende o aumento da arrecadação sobre a renda e a redução da carga que incide sobre o consumo, além da volta da tributação sobre lucros e dividendos distribuídos a acionistas de empresas. Também quer a criação de um fundo para financiar a proteção social, principal instrumento de redução das desigualdades. O projeto final, que deve ser levado aos parlamentares a debate no Congresso, está previsto para divulgação em agosto.
A iniciativa é da Associação Nacional dos
Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Anfip) e da Federação
Nacional do Fisco Estadual e Distrital (Fenafisco), com apoio do Conselho
Federal de Economia (Cofecon), Departamento Intersindical de Estatística e
Estudos Socioeconômicos (Dieese), Fundação Friedrich Ebert Stiftung Brasil (FES),
Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc), Instituto de Justiça Fiscal (IJF)
e Oxfam Brasil. Segundo a Anfip, apenas a isenção dos lucros e dividendos,
estabelecida pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso em 1996,
representa cerca de R$ 80 bilhões a menos no orçamento da União, por ano.
Os primeiros diagnósticos do estudo, que compara o sistema tributário brasileiro com os de outros países, estão consolidados no livro “A reforma tributária necessária: diagnóstico e premissas”, que será lançado na abertura do Fórum Internacional Tributário, em São Paulo. Com 804 páginas, 39 artigos, escritos por 42 especialistas, dedicados ao projeto desde julho de 2017, o livro terá também uma versão on line no site http://plataformapoliticasocial.com.br/.
“Nossa intenção é apresentar o trabalho aos presidenciáveis”, afirma o economista Eduardo Fagnani, professor da Unicamp e coordenador do trabalho técnico e da edição do livro.
Modelo solidário
O documento aponta o caráter regressivo do sistema como uma das principais razões da distribuição injusta da renda no Brasil, que dá ao país o posto de décimo mais desigual do mundo, no ranking de mais de 140 países da Pnud, utilizado pela ONG Oxfam.
Por isso, o projeto quer ir além de unicamente “simplificar” o sistema, como pretende a minuta do estudo atualmente em discussão no Congresso, do deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR). De acordo com Fagnani, o projeto de Hauly, ao extinguir vários impostos e substituí-los por um IVA único, atinge em cheio aqueles que têm destinação determinada para a Seguridade Social – como o PIS e a Cofins – cujos recursos ficariam à mercê da Lei Orçamentária e das inclinações políticas do Congresso. Esse caminho, alerta o economista, poderia representar o fim do Estado social brasileiro, fundado pela Constituição de 1988.
O modelo solidário, diferentemente, pretende equilibrar simplificação e bem-estar social, com base em oito premissas básicas. A primeira delas é que seja elaborado na perspectiva do desenvolvimento. “Porque as desigualdades do país não são só por renda. Envolvem cor, gênero, acesso à Justiça, à segurança, saúde, alimentação, educação, classes e regiões do país”, explica Fagnani. O economista deixa clara a importância da tributação em um projeto de desenvolvimento. “Ela é fundamental porque reduz a desigualdade de renda, melhora o mercado interno, incentiva o crescimento e cria condições para que o Estado amplie o financiamento dos investimentos, tanto econômicos como sociais, que melhoram a qualidade de vida das pessoas”.
A segunda é que a reforma esteja “adequada ao propósito de fortalecer o Estado de bem-estar social, em função do seu potencial como instrumento de redução das desigualdades sociais e como promotor do desenvolvimento nacional”. Ou seja, é preciso enfrentar a tributação direta. “O Imposto de Renda pessoa jurídica e pessoa física são os pilares, mas não podemos parar aí. É preciso taxar transações financeiras, enfrentar os paraísos fiscais e a propriedade e a riqueza (impostos sobre herança, imóveis, veículos, grandes fortunas), lucro e dividendos.”
A progressividade deve aumentar por meio da redução da tributação indireta, sobre o consumo, aí sim, com uma simplificação da estrutura. Outras premissas incluem restabelecer as bases do equilíbrio federativo, aperfeiçoar o tratamento dado ao comércio internacional e levar em conta a tributação ambiental.
Segundo Fagnani, a tributação ambiental existe mundialmente desde a década de 1970. Já no Brasil, embora o país seja o maior consumidor de agrotóxico do mundo, o produto é isento. “Na Europa, a tributação ambiental representa 6% da carga tributária total, e a meta é chegar a 10% em 2020”, diz.
Finalmente, a reforma do sistema tributário nacional deve fomentar ações que resultem no aumento das receitas, por meio da revisão das renúncias fiscais e pelo combate à evasão fiscal. Isso significa, entre outras medidas, rever incentivos, que somam hoje mais de R$ 300 bilhões, ou 20% da carga de Imposto de Renda, da ordem de R$ 1,5 trilhão. Ao mesmo tempo, a proposta pretende modernizar a administração tributária, tornando-a mais ágil e com maior poder de combate à sonegação – “que nem é crime no Brasil”, observa o economista.
Campeão da desigualdade
Segundo o Relatório “A distância que nos une”, publicado em setembro de 2017 pela Oxfam, entidade que apoia o Movimento Reforma Tributária Solidária, os seis maiores bilionários do país possuíam juntos, no início de 2017, riqueza equivalente à da metade mais pobre da população. O Brasil contava, então, mais de 16 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, sendo o país que mais concentra renda no 1% mais rico, com o terceiro pior índice de Gini na América Latina e Caribe (atrás somente da Colômbia e de Honduras).
Em relação à renda, o 1% mais rico da população recebe, em média, 25% de toda a renda nacional, e os 5% mais ricos, o mesmo que os demais 95%. Uma pessoa que recebe um salário mínimo mensal levaria quatro anos trabalhando para ganhar o mesmo que o 1% mais rico ganha em um mês, em média. Seriam necessários 19 anos de trabalho para equiparar um mês de renda média do 0,1% mais rico.
Apesar da resistência disseminada à ideia de aumentar impostos, efeito de um bombardeio de propaganda que inclui os “patos” da Fiesp, o coordenador de campanhas da Oxfam Brasil e um dos autores do relatório, Rafael Georges, está otimista com a possibilidade da reforma ser aceita. Em pesquisa feita pela entidade para a Folha de S.Paulo, em dezembro do ano passado, ele conta que, embora a maioria tenha sido contra aumentar tributos para financiar políticas sociais, 71% dos consultados concordaram com a afirmação de que é preciso aumentar impostos dos muitos ricos para financiar saúde e moradia. “Via de regra, o brasileiro espera que o Estado atue para corrigir desigualdades, mas não quer pagar impostos. Esse aparente paradoxo pode resultar na tributação dos muito ricos”, diz. Para Georges, é importante discutir o papel social do imposto.
A desigualdade, que já é grave, tende a aumentar com a crise. Estudo feito a partir de dados da Pnad Contínua do IBGE pelo economista Daniel Duque, do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre-FGV), a pedido do jornal Valor, mostra que, no primeiro trimestre desse ano (ou de 2018), a renda média mensal dos 20% mais pobres caiu 5%, e a dos 20% mais ricos subiu 10,8%, na comparação anual.
ENTREVISTA
Luiz Carlos Bresser-Pereira
“O liberalismo é uma desgraça contra a Nação brasileira”
A trajetória política e intelectual de Bresser-Pereira está intimamente ligada à História do Brasil. Sua atuação se destacou não só na administração pública, como também na iniciativa privada e na área acadêmica. Foi presidente do Banespa e secretário de governo na gestão Franco Montoro; ministro da Fazenda de José Sarney; e ocupou os ministérios da Administração Federal e Reforma do Estado e da Ciência e Tecnologia, no governo Fernando Henrique Cardoso. Na iniciativa privada, esteve à frente do Grupo Pão de Açúcar como diretor-administrativo, entre 1965 e 1983. Professor emérito da Fundação Getulio Vargas desde 2005, é editor da Revista de Economia Política, que fundou e dirige desde 1981.
Aos 84 anos, Bresser-Pereira continua ocupando um lugar de destaque no debate nacional, discutindo com paixão novas estratégias para a retomada do desenvolvimento do Brasil. Ano passado, diante de um país dividido e de uma crise econômica sem precedentes, reuniu um grupo de intelectuais para repudiar a “volta ao liberalismo radical do governo Temer”, que, segundo ele, “não quer saber do social, apenas destruir e reduzir salário, bem ao gosto dos liberais”. Dessas conversas, surgiu o Manifesto Projeto Brasil Nação, lançado em março de 2017. “A missão do Projeto Brasil Nação é pensar o Brasil, é ajudar a refundar a nação brasileira, é unir os brasileiros em torno das ideias de nação e desenvolvimento”, diz o Manifesto, que recebeu apoio de importantes personalidades do mundo cultural, acadêmico e político.
Perguntado sobre o andamento do Brasil Nação, um ano depois de lançado, o economista nos passou a ideia de que a iniciativa não rendeu os frutos que esperava, confessando-se um pouco incompreendido nas suas propostas. Talvez por isso, em vez de responder às perguntas da Por Sinal (minhas, do Daro Piffer e do Paulo Lino), preferiu aproveitar o encontro e, durante uma hora, nos deu uma aula sobre o drama da economia brasileira, semi-estagnada desde a década de 80.
FLAVIA CAVALCANTI
A semiestagnação da economia brasileira
O Brasil está estagnado desde 1994. E essa estagnação teve uma causa
principal clara: taxa de juros muito alta e taxa de câmbio muito apreciada.
Isso foi um fato novo, que provocou uma desindustrialização prematura e
brutal da economia brasileira. Como consequência, o país começou a crescer a
uma renda bruta de menos de 1% per capita, enquanto entre 1950 e 1980 ele
crescia a uma taxa de 4,5%. Para mim, isso se chama semiestagnação.
O Brasil deixou de fazer o “alcançamento”, ou o “catchingup” [processo
por meio do qual países em desenvolvimento competem com os países ricos e
crescem mais rápido do que eles, assumindo papel de destaque no cenário
global], e passou a crescer mais lentamente do que os países ricos e
muito mais do que os do Leste Asiático, particularmente a China. No plano
econômico, desde 1994, quando enfim superamos o problema da inflação –
antes tínhamos superado a crise da dívida externa, que estagnou a economia
nos anos 80 –, era de se esperar que o Brasil crescesse, e não cresceu.
Não cresceu com o Collor, que implantou o regime liberal, e não cresceu com
Fernando Henrique Cardoso, que aprofundou essa política liberal. E veio
Lula, que não é desenvolvimentista, mas de centro-esquerda, e se preocupou
saudavelmente com a distribuição de renda, com a diminuição da desigualdade.
Mas em nada mudou a política econômica, que continuou liberal. Depois veio a
Dilma, e durante dois anos ela tentou mudar. Fracassou. Foi muito
incompetente, infelizmente, política e economicamente. E o país voltou para
trás...
Por fim, tivemos um golpe parlamentar. E continuamos no regime liberal e
semiestagnados. Depois de uma recessão brutal de três anos, neste ano
estamos retomando o crescimento, mas esta retomada é ridícula. Isso mostra
que havia uma doença mais profunda na economia brasileira.
O populismo econômico
Acredito que a semiestagnação da economia decorre de duas
coisas. Um populismo econômico, que nada mais é do que uma atitude dos
brasileiros, em todos os níveis, de consumir hoje e agora. Tanto a direita
como a esquerda, tanto os ricos como os pobres. Ninguém acredita que é
preciso fazer poupança para investir. Para alguns, basta aumentar salários e
consumir; para outros, reduzir salários e os ricos consumirem. E todos têm a
solução mágica: já que não poupamos, usamos a poupança externa.
O populismo econômico é incompatível com o desenvolvimento brasileiro. É
associado à total perda da ideia de Nação. Não sabem quais são seus
interesses, de forma que se deixam dominar e passam a adotar esse
liberalismo que vem dos EUA.
Populismo econômico é um conceito que aparece
no final dos anos 80, no quadro do Consenso de Washington. Eu uso porque é
prático. Não tem nada a ver com o populismo político. É simplesmente gastar
mais do que se arrecada, irresponsavelmente. Mas quem gasta?
Segundo os liberais que inventaram o conceito, é o Estado da indisciplina
fiscal. Eu sou um keynesiano e sou contra a indisciplina fiscal. Acho que só
se entra em déficit público, contraciclicamente, em recessão. Fora isso, o
Estado tem de ser disciplinado e manter sob controle a sua dívida pública.
Mas existe outro populismo econômico, que é o cambial. Neste caso, não é o
Estado, mas o Estado-Nação que gasta mais do que arrecada, de forma
irresponsável. Novamente, o resultado é consumo. E, nos dois casos, o não
crescimento. No primeiro, o resultado é endividamento interno. No segundo, é
pior, endividamento externo. Além disso, essa prática e a decisão de
incorrer em déficit de conta-corrente é uma forma de apreciar o câmbio. E,
ao apreciá-lo, torna-se as empresas industriais não competitivas. Promove-se
a desindustrialização.
Por que o Brasil não cresce? Porque entrou na armadilha da
renda média. Foi o Banco Mundial que inventou isso, em 2007. E,
estatisticamente, os levantamentos feitos por vários economistas lá do Norte
revelam que uma série de países de renda média parou de crescer. O Brasil,
certamente. Mas não os do Leste Asiático, claro. A partir dos anos 90,
muitos pararam de crescer ou passaram a crescer miseravelmente. A não ser
quando houve um boom de commodities, como no tempo do Lula. Fora
isso, há uma taxa de crescimento muito insatisfatória.
E puseram-se a dar explicações maravilhosas para isso. Por exemplo: “O
problema são as instituições, porque as instituições fazem a diferença.” Os
liberais adoram falar isso. “Institutions matter” [Instituições são
importantes] Sim. Água e ar também. Claro que as instituições importam.
Mas as nossas não pioraram em nada, até melhoraram, pelo menos de acordo com
os liberais, que fizeram um monte de reformas. Estamos vendendo o Brasil!
A
virada neoliberal
Estou fazendo um artigo com a jornalista Eliane Araújo, em
que vou tentar explicar melhor essa questão com uma teoria, o Novo
Desenvolvimentismo. Uma macroeconomia novo-desenvolvimentista. Uma forma de
explicar essa teoria é dizer por que o Brasil parou, por que muitos países,
além do Brasil, pararam, enquanto outros, em número menor, como a China, os
países do Sudeste Asiático e a Índia, continuaram crescendo.
Porque, a partir dos anos 80, o Norte deixou de ser desenvolvimentista e
passou a ser neoliberal. Não pensem nos EUA, pensem nos anos dourados do
capitalismo da Europa. E nos EUA do New Deal, que foi muito progressista e
intervencionista, só que com uma intervenção moderada. O desenvolvimento,
para mim, é o Estado intervir moderadamente na economia e ter uma ideia de
Nação.
O capitalismo nasceu desenvolvimentista, na Bélgica, na Inglaterra, na
França, com a revolução industrial de cada um desses países, que aconteceram
no quadro do mercantilismo. Não foi no quadro do Adam Smith, que escreveu
seu livro em 1776, fundando o liberalismo econômico. A Inglaterra só abriu
sua economia no ano da graça de 1834, 50 anos depois da publicação do Adam
Smith. O capitalismo nasceu desenvolvimentista, tinha estratégias de
desenvolvimento. Virou liberal a partir dos anos 30 – entre os anos 30 do
século 19 e os anos 20 do século 20. Então veio a crise de 1929 e a
revolução daquele que foi o grande estadista da História: Franklin Delano
Roosevelt.
Até então o capitalismo, mesmo nos EUA, era razoavelmente
desenvolvimentista. O Banco Mundial moderado, era também desenvolvimentista.
Depois houve uma mudança fundamental em torno do capitalismo, isso por volta
de 1980. De repente, ele dá uma virada violenta, que teve péssimos efeitos.
No resto do mundo, essa virada aconteceu um pouco depois, em torno de 1990,
exceto nos países do Leste Asiático.
Como isso se refletiu no desenvolvimento do Brasil? Para explicar, temos de
descobrir o fato novo, histórico, que mudou substancialmente o cenário. O
período dos anos 80 se explica com a política de crescimento com poupança
externa do Geisel, que resultou na crise da dívida externa e na alta
inflação inercial, uma vez que a economia foi indexada pelos militares. E,
durante dez anos, até o Plano Real, ficamos estagnados devido à alta
inflação.
A doença holandesa
Qual é o segredo do crescimento do Brasil? O Brasil é um país
que tem doença holandesa. Quase todos os países da América Latina têm, mas
os do Leste Asiático, não.
A
doença holandesa é uma sobreapreciação de longo prazo da taxa de câmbio de
um país que é exportador de commodities. E essas commodities, por uma série
de razões – “rendas ricardianas” [expressão derivada do nome do
economista britânico David Ricardo (1772-1823), para as rendas que têm
origem nos diferenciais de produtividade de recursos naturais. Por exemplo,
a renda da terra ou de reservas de petróleo] ou um boom de commodities,
ou os dois juntos –, também podem ser apreciadas com lucro. É uma taxa
substancialmente mais apreciada do que a taxa necessária para que as
empresas industriais, que utilizam tecnologia no estado da arte mundial,
sejam competitivas. É uma falha de mercado, uma desvantagem, que provoca um
desequilíbrio fundamental. Os países que têm doença holandesa não se
industrializam – Arábia Saudita, Venezuela, por exemplo.
O Brasil, como a Argentina, também tem a doença holandesa, mas não tão
grave, pois ela é causada pelo café, pela soja, pelo minério de ferro, que
não apreciam tanto. A diferença entre o que é satisfatório para as
commodities e o que é necessário para a indústria é menor, mas é
suficientemente grande para ser preciso neutralizá-la se o país quiser
crescer. Então eu concluo que o Brasil, quando teve esse desenvolvimento
industrial extraordinário, neutralizou sua doença holandesa.
A doença holandesa não acontece só em país pobre. Os EUA tiveram doença
holandesa. O petróleo a preço de banana que eles descobriram – a exploração
no final do século 19 e começo do século 20 – foi um problema para a
indústria americana. Eles não sabiam da doença holandesa, como nós não
sabíamos, mas sentiram. E fizeram uma coisa simples: tarifas aduaneiras
muito altas. Vocês têm ideia de quando os EUA baixaram suas tarifas
alfandegárias e deixaram de ser um país protecionista, embora eu não ache
que era protecionista? No ano de 1839. E por quê? Porque estavam
neutralizando a doença holandesa. Quando você aplica tarifas alfandegárias,
está fazendo a mesma coisa que depreciar a taxa de câmbio, para efeito de
mercado interno. As empresas não ficam competitivas para exportar, mas para
o mercado interno, sim. Com aquele mercado interno enorme dos EUA, com todo
o crescimento que vinha já do século 19, eles não tiveram problema em
desenvolver uma grande indústria, muito mais voltada para o mercado interno
do que para a exportação.
O Brasil fez a mesma coisa. Através de tarifas aduaneiras ou de mecanismos
de câmbio múltiplo, o que se fazia essencialmente era neutralizar a doença
holandesa para efeito de mercado interno. Não é a forma mais elegante, mas
era o que os países faziam intuitivamente. Não sabiam o que era a doença
holandesa, então precisavam desenvolver toda uma teoria, o chamado
desenvolvimentismo clássico – “developmenteconomics” ou estruturalismo
latino-americano. É o Prebish [RaúlPrebish], o Furtado [Celso Furtado], da
Cepal, o Arthur [Arthur C. Lewis], o Nurkse [Ragnar Nurkse], o Myrdal [Gunnar
Myrdal], o Hirschman [Albert Hirschman], Hans Singer. Os grandes economistas
desenvolvimentistas.
 Desenvolvimentismo clássico
Desenvolvimentismo clássico
Resolvi chamar essa escola de pensamento, que começa nos anos
40 e vive até os 60, de desenvolvimentismo clássico. Uma série de teorias e
críticas ao pensamento liberal neoclássico, para justificar a aplicação
dessas tarifas pelo Estado e adotar o chamado modelo de substituição de
importações. Nesses casos, estavam certos de que faziam a proteção da
indústria infante (conceito inventado pelo americano Alexander Hamilton em
1792, quando foi secretário do Tesouro do Washington, e retomado por
Friedrich List, na Alemanha). Mas não era só isso. Também estavam
neutralizando a doença holandesa. Sem saber, mas estavam. E o Brasil também.
No caso do Brasil, em 1967 acontece uma coisa fundamental, que o meu amigo
Delfim [Delfim Netto, ministro da Fazenda de 1967 a 1974] até hoje
não entendeu direito. Mas ele foi o gênio que fez a coisa. Ao chegar ao
poder, ele cria o crédito-prêmio de exportação [crédito-prêmio de imposto
sobre produtos industrializados – IPI, instituído pelo Decreto-lei 491/69,
que isentava de IPI os produtos exportados pelas indústrias e permitia que
elas se creditassem do imposto pago na compra de matérias-primas].
Um mecanismo complicadíssimo que, trocado em miúdos, significava um alto
subsídio à exportação de manufaturados. Era a neutralização da doença
holandesa, agora para efeito de mercado externo. Para se ter uma ideia do
que aconteceu, as exportações de manufaturados no país, que representavam 6%
do total das exportações brasileiras em 1965, no fim do processo, em 1990,
quando acaba o subsídio, chegaram a 62%. Ou seja, foram de 6% para 62%, em
25 anos – ou em 23, porque dois anos foram gastos para inventar a história.
E o Brasil virou um grande exportador de manufaturados. A economia cresceu e
a participação das commodities, que era dominante com o café, diminuiu.
Populismo cambial
Mas em 1990 chega Collor e faz a abertura. Tristemente, com
meu apoio. Como ministro da Fazenda de Sarney, em 1987 eu comecei a fazer os
preparativos necessários para a abertura, porque uma tarifa média de 45% de
importação era uma loucura. Não olhei os subsídios, não sabia nada de doença
holandesa. Quando o Collor chegou, estava tudo preparado. Abriram o mercado
e a alíquota de importação foi de 45% para 12%.
A
indústria nacional não estava preparada para isso. No sistema comercial
brasileiro, nos 45% de tarifa média de importação, nos 45% de subsídio à
exportação de manufaturados, em tudo isso estava embutido o mecanismo Delfim
Netto de neutralização da doença holandesa. Quando se faz a abertura, acabam
com o subsídio, pura e simplesmente. Só foi diferente no caso da indústria
automobilística, que o José Serra cuidou quando foi ministro do
Planejamento, em 1995. Senão, nem indústria automobilística teríamos mais,
pois a tarifa de importação foi para 12%! Resultado: o país passou a ter uma
grande desvantagem competitiva, o câmbio se tornou inviável para a indústria
brasileira. A doença holandesa deve ter apreciado a taxa de câmbio entre 10%
e 20%, conforme o preço internacional das commodities.
Mas não é só isso. A taxa de câmbio no Brasil é apreciada por dois motivos.
Um, porque se neutraliza a doença holandesa. Outro, porque se mantém uma
taxa de juros escandalosamente alta. O Banco Central vem, desde 1995,
mantendo taxas de juros altíssimas, permanentemente. Ontem [dia 16 de
maio] terminou um grande processo de redução, quando o Banco Central
freou a taxa em 6,5%. Com uma inflação de 2%, se tanto [a variação
acumulada em 12 meses do IPCA foi de 2,76% em abril], continua-se com
quase 5% de taxa real de juros, enquanto no resto do mundo a taxa básica é
próxima de zero. A taxa de juros tem sido altíssima no Brasil e não é só
para combater a inflação. Ninguém me explica por que preciso de uma taxa de
5%, 8%, 10%, a não ser para atrair capitais.
Os brasileiros, à direita e à esquerda, estão convencidos de que, se o
Brasil tiver um déficit de conta-corrente de 3% do PIB, e for financiado em
mais ou menos 70% por investimentos diretos, estaremos no melhor dos mundos,
aquele mundo do doutor Pangloss, do Candide (“Cândido, ou o Otimismo”), do
Voltaire, uma maravilha. Pois eu digo que quando se tem 3% de déficit de
conta-corrente, ou mais ou menos isso, mesmo que financiado em 70%, 80%,
pouco importa, por investimento direto estrangeiro, está se praticando
populismo cambial. E está se estimulando fortemente o consumo, e não o
investimento.
Das duas, uma: ou eu sou um grande economista e estou descobrindo a América,
ou sou um péssimo economista e não sei o que estou falando. Porque faço esta
afirmação: os países em desenvolvimento devem crescer com seu próprio
capital e não devem ter déficit em conta-corrente. A não ser em momentos
raros, quando já estão crescendo muito rapidamente. A última vez no Brasil
foi na época do Milagre Econômico, entre 1968 e 1973. A Coreia teve um
momento, por exemplo, nos anos 70, em que valia a pena, porque o crescimento
era brutal. E quando o crescimento é brutal, a propensão marginal a consumir
diminui; a propensão marginal a investir aumenta; e a taxa de substituição
da poupança interna pela externa diminui. O dinheiro que vem de fora acaba
por ser investido.
Normalmente, por que esse dinheiro que vem de fora vira consumo e não é
investido? Essa foi minha intuição básica em 2001, quando comecei a
desenvolver toda essa teoria. Porque, se você tem um déficit de
conta-corrente de 3%, 4% do PIB, a taxa de câmbio que corresponde a esse
déficit é substancialmente mais apreciada do que a taxa de câmbio que
equilibra a do Brasil. E se você quiser ter um superávit em conta-corrente –
deveria ter um superávit de 1% mais ou menos –, a taxa de câmbio que
equilibra é ainda mais depreciada. Isso é uma coisa absolutamente
fundamental.
A política de crescer com poupança externa, que nos é vendida pelo Norte, a
aceitamos com grande alegria – porque é consumo e consumo é festa. Mas nos
enganamos dizendo que não é consumo, mas poupança externa que vai virar
investimento. Mas é claro que não vira. Porque se aprecia o câmbio e, com
isso, se cria uma desvantagem competitiva para as empresas industriais. E
estimula-se o consumo, porque o poder aquisitivo das pessoas aumenta quando
o câmbio é apreciado. E todo mundo vai para Miami.
O fato concreto é que, em 1990, com a abertura comercial, nós e outros
países entramos na armadilha da renda média e paramos de neutralizar a
doença holandesa. E deixamos de ter juros baixos e passamos a ter juros
escandalosamente altos, seguindo as normas lá de cima. Porque essa forma de
neutralizar a doença holandesa era chamada de protecionismo. Não era. Eu sou
contra o protecionismo e continuo fiel à minha ideia de abertura lá de 1987.
Os cinco preços certos da economia
Existe um regime de política econômica desenvolvimentista e
um regime de política econômica liberal. No caso de um país que tem problema
de doença holandesa, e é um país em desenvolvimento, com um monte de
rentistas e financistas que acham que juros altos é bom, um país assim, com
os liberais, não cresce de jeito nenhum. Precisamos de desenvolvimentistas
responsáveis fiscalmente.
Há duas contas macroeconômicas. O que o economista precisa fazer é manter os
cinco preços macroeconômicos certos. Os neoliberais neoclássicos dizem que
os desenvolvimentistas têm preços errados, porque, para eles, o certo é o
preço do mercado. Não, meus amigos. Eu vou discutir os cinco preços
macroeconômicos: taxa de juros, taxa de câmbio, taxa de salários, taxa de
inflação e o mais importante deles, a taxa de lucro. Nunca vou ter
desenvolvimento econômico se os empresários não tiverem lucro,
principalmente os empresários que desenvolvem produtos industriais, os
setores sofisticados. No Brasil, só têm lucros no setor produtivo, desde
1990, as commodities (e as coisas em volta delas) e as empresas de “non
tradeables” – construção civil e outras coisas que servem o mercado interno.
Empresa de “tradeable”, que é fundamentalmente indústria, não tem
lucro porque a taxa de câmbio a inviabiliza [tradeable
são produtos não commodities negociáveis no mercado externo, exportáveis;
non tradeable só é negociável no mercado interno].
 E eu preciso que os cinco preços estejam certos.
Não é o que o mercado define, porque o mercado é absolutamente incapaz de
definir o que é preço certo. Eu sou desenvolvimentista principalmente por
causa disso. O nível da taxa de juros, em torno da qual o Banco Central faz
sua política monetária, deve ser baixo. Nos EUA, está próxima de zero; no
Brasil deveria ser mais ou menos 2%. A taxa de câmbio deve ser competitiva.
Ou seja, deve tornar competitivas as empresas “tradeables”, não as
commodities.
E eu preciso que os cinco preços estejam certos.
Não é o que o mercado define, porque o mercado é absolutamente incapaz de
definir o que é preço certo. Eu sou desenvolvimentista principalmente por
causa disso. O nível da taxa de juros, em torno da qual o Banco Central faz
sua política monetária, deve ser baixo. Nos EUA, está próxima de zero; no
Brasil deveria ser mais ou menos 2%. A taxa de câmbio deve ser competitiva.
Ou seja, deve tornar competitivas as empresas “tradeables”, não as
commodities.
A taxa de salários tem de crescer com a produtividade. Não pode inviabilizar
a taxa de lucros dos empresários. A taxa de inflação, por sua vez, tem de
ser muito baixa, não há nenhuma razão para não ser. E a taxa de lucro tem de
ser satisfatória para os empresários competentes e capazes de investirem. É
isso que nós não temos. Não temos os juros no lugar certo, não temos o preço
do câmbio no lugar certo e não temos a taxa de lucro no lugar certo para a
indústria. E durante algum
tempo, no governo Dilma, nem os salários, pois eles começaram a crescer mais
que a produtividade. O resultado foi a crise em que nós entramos.
É preciso manter os cinco preços certos e as
duas contas macroeconômicas certas. Ser responsável fiscal e cambialmente.
Se a dívida pública estivesse num nível razoável – hoje está acima do
razoável –, o país poderia ter um pequeno déficit público, desde que ele não
implicasse aumento da relação déficit público/PIB. É possível. Bastaria que
este déficit público fosse menor do que a taxa de crescimento da economia.
Agora, em conta-corrente, o Brasil deveria ter um superávit, em vez de
déficit. Se o Brasil não tivesse doença holandesa, deveria ter zero de
déficit. Isso significa uma política fortemente antipopulista. Eu defendo
que o Estado tenha uma poupança pública para financiar uma parte dos seus
investimentos. É fácil fazer isso? Depreciar o câmbio, colocar o juro no
lugar certo? Não! Quem é contra? Não só os populistas de esquerda, todos os
liberais também.
Quem
paga pelo ajuste
Vamos pensar num país, num modelo, para saber quem é que paga pelo ajuste.
Venho vendendo essas ideias e os liberais não querem saber delas, porque é
desenvolvimentismo. E os desenvolvimentistas – nem todos, mas uma parte
deles – também não querem, porque dizem que a depreciação baixa salários.
Baixa mesmo, um pouquinho. Se você faz uma depreciação bem-sucedida, em
termos reais, por algum tempo você baixa o poder aquisitivo dos salários.
Mas essa queda é provisória, depois recupera e o país passa a crescer mais.
Os empresários passariam a investir porque teriam o lucro que precisam e os
salários aumentariam muito mais.
O ajuste populista de esquerda é simples, é só fazer política industrial. O
ajuste liberal também é muito simples, faz-se um ajuste fiscal “à la Joaquim
Levy”, corta-se a despesa corrente, corta-se o investimento público
de alto a baixo, e, com isso, o déficit público diminui, e a taxa de juros
cai um pouco. Só que isso provoca uma bela recessão, que provoca desemprego,
que provoca queda dos salários. Com a queda dos salários, ainda que o câmbio
continue no mesmo nível, ele se torna mais competitivo, de forma que estaria
tudo resolvido. E quem paga? São exclusivamente os trabalhadores. Eles é que
ficam desempregados e perdem os salários.
O Marcos Lisboa escreveu um artigo na Folha de S.Paulo, publicado em maio, dizendo que não compreendia por que alguns economistas, eu entre eles, estão sempre atribuindo o problema fundamental do Brasil aos juros e ao câmbio. Em determinado ponto, ele escreve: “Quando você deprecia o câmbio, você reduz o salário e aumenta o lucro dos capitalistas.”
No meu modelo – e não é esse modelo marxista do meu amigo Marcos Lisboa, que
só tem capitalistas de um lado e trabalhadores do outro –, tem
trabalhadores, mas os capitalistas são dois: os empresários e os rentistas.
Rentista é quem vive de aluguéis, juros e dividendos, não é quem trabalha.
Nem paga imposto. Empresário é quem empreende, sofre riscos, não é brinquedo
ser empresário. Acho que os rentistas são os herdeiros dos especuladores.
Uma desgraça, deveriam ter o mínimo de rendimento, mas são os que mandam no
Brasil hoje, associados aos financistas no mundo. Eu chamo o capitalismo que
nós estamos vivendo de capitalismo financeiro-rentista.
Modelo novo-desenvolvimentismo
Qual é o ajuste novo-desenvolvimentista? Você faz o ajuste fiscal, mas não
corta o investimento, só corta a despesa corrente. Procura garantir o
investimento público. Ao mesmo tempo, deve mostrar ao Banco Central que o
ajuste é sério, para que reduza os juros. Segundo ponto: faço uma
depreciação cambial para neutralizar a doença holandesa, não por meio de
tarifas e subsídios, mas por meio de uma retenção variável sobre as
exportações de commodities, o que produz exatamente o mesmo resultado, de
forma elegantíssima. E o exportador de commodities não paga nada. Ele paga
em retenção, recebe de volta em câmbio. E, assim, se baixam os juros.
Com essas duas medidas, o câmbio deprecia e se tiram as duas causas
fundamentais da apreciação. O país recupera a competitividade plenamente, e
não pela metade (como no outro caso), e volta a crescer. E agora quem pagou
pelo ajuste? Os trabalhadores pagaram, mas um pouco menos, porque a recessão
certamente foi menor. Os rentistas pagaram também, e para valer. Primeiro,
porque pagaram igualzinho aos trabalhadores, no fluxo de juros, aluguéis e
dividendos que recebem – e que perdem valor. Segundo, porque eles têm
riqueza em reais e essa riqueza perde valor, enquanto os trabalhadores não
têm riqueza para perder. Terceiro, a redução na taxa de juros é ótima para
trabalhadores. Taxa de juros baixa para rentista é anátema. Em pouco tempo,
embora os salários não voltem a crescer logo, os empregos começam a ser
retomados, e isso interessa ao trabalhador também.
Se os liberais representam os interesses principalmente dos rentistas, os
novo-desenvolvimentistas querem representar os interesses dos trabalhadores,
mas também dos empresários, e não dos rentistas.
Autonomia
do Banco Central
Sou absolutamente contra o fato de o Banco Central controlar
a política de taxa de câmbio. Entendo que o governo brasileiro deveria criar
um Copoc – um Conselho de Política Cambial, parecido com o Comitê de
Política Monetária (Copom), mas não igual. E fora do Banco Central, como é o
Copom. Esse Comitê de Política Cambial seria também do governo. E ele
definiria a política cambial para o BC executar, como funciona nos EUA.
Ainda que para eles seja muito mais difícil do que para nós mexer no câmbio.
O problema é que, como o Banco Central fica apenas responsável pela
inflação, o câmbio se torna instrumento para combater a inflação. O Banco
deveria ter esse compromisso com o câmbio – uma forma mais direta.
Toda essa teoria, tudo o que falei sobre o câmbio, acho que é algo muito
novo. Porque, antes dela, a taxa de câmbio nunca foi parte de uma teoria de
desenvolvimento econômico. Agora é.
Hoje há uma pressão para que o Banco Central tenha autonomia, e é bom que
tenha uma certa autonomia. Mas não precisa de nenhuma autonomia a mais do
que essa que ele já tem. A rigor, o Banco Central deve responder ao governo.
Estamos numa democracia, ele deve ser um órgão do governo insulado
burocraticamente. Como deve ser a Petrobras, e era assim no tempo dos
militares, como deve ser o BNDES e continua sendo, graças a Deus. Deve ser
insulado, mas tem de responder ao governo. O governo que foi eleito é que
deve ser responsável pelo Banco Central. É assim nos EUA. Na crise do euro,
o banco central europeu, que é autônomo, demorou cerca de três anos para
agir. Eu não tenho nenhuma simpatia por grandes autonomias. Acho que deve
ter uma autonomia razoável, uma dialética.
Não quero transformar o Banco Central em um Ministério da Fazenda – tem que
ter certa independência, mas só um pouco. Naquele breve período em que eu
fui ministro da Fazenda, participei de uma reunião anual do Comitê de
Desenvolvimento. Quem senta no Comitê de Desenvolvimento? São os executivos
do Banco Mundial, do FMI e os ministros de 25 países, e um pouco ao lado de
cada um deles, assessorando, o presidente do Banco Central. E é o que tem de
ser.
Direitos republicanos
O orçamento engessado é realmente um problema importante da
economia brasileira. É preciso diminuir um pouco essas vinculações, que não
são saudáveis, dificultam a administração, a política fiscal do governo. No
plano fiscal, o Estado, ou o Tesouro, é vítima de uma captura permanente. Há
sempre grupos fortemente dispostos a capturar o patrimônio público, a
privatizar o patrimônio público, a fazer o “rent-seeking”, a busca de renda
[busca de benefícios ou privilégios econômicos por meio de influência, ou
lobby, junto ao governo], tudo a mesma coisa. Quem são os buscadores de
renda no Brasil? Em primeiro lugar, são os rentistas, de tanto que eles
levam de dinheiro, de juros que não deveriam ser pagos, mas que são legais.
Meu melhor artigo de teoria política chama-se “Cidadania
e res pública:
a emergência dos direitos republicanos”. E o que são os direitos
republicanos? Você tem os direitos civis, historicamente. Depois os direitos
políticos, com o sufrágio universal. E então os direitos sociais, já no
século 20. No final desse século, estava se definindo um quarto tipo de
direito, que eu propus chamar de direitos republicanos. O direito que cada
cidadão tem de que a coisa pública, o patrimônio público, seja utilizado
para fins públicos. Mas não estou dizendo isso para brigar contra a
corrupção – porque a corrupção não precisa de nenhum direito novo. Para
corrupção, é preciso polícia e cadeia.
Acontece que esse patrimônio público está sendo permanentemente capturado,
privatizado. Os juros são uma forma de fazer isso. Salários e aposentadorias
excessivamente altas e desconectadas da realidade do trabalho que a pessoa
faz no setor público é outra forma de captura. Os subsídios escandalosos,
tudo isso são capturas. É algo muito grande e difícil de enfrentar. Os
interesses não são somente dos políticos bandidos, mas também dos
empresários, dos rentistas, financistas, etc... Em alguns momentos, até dos
trabalhadores. É uma briga constante. E eu vejo, por outro lado, que a
dominação neoliberal sobre o Brasil inviabiliza qualquer coisa. Eles têm uma
solução geral, universal, mas nunca resolverão esses problemas e nos
manterão subordinados ao capitalismo financeiro rentista internacional.
Finalmente, por que os países do Leste e do Sudeste da Ásia, e mais a Índia,
continuaram crescendo? Porque eles não se submeteram às reformas
neoliberais. Porque eles continuam sendo desenvolvimentistas e porque não
têm doença holandesa (a Indonésia já tem). Isso é muito importante. Não
passa na cabeça de um japonês, de um chinês, de um malaio, de um vietnamita
que são europeus. Enquanto nós, brasileiros, achamos que somos europeus.
Cadê a Nação brasileira? Eles têm uma nação muito mais forte que a nossa. O
liberalismo é uma desgraça contra a Nação brasileira.
Projeto de Nação
A única forma de viabilizar um projeto como o que eu defendo é através da
democracia. Na democracia, nós temos alguns bons candidatos. Eu
absolutamente não acredito que todos sejam corruptos. Acredito que uma nação
é forte, quando tem pessoas que são nacionalistas do ponto de vista
econômico. Tenho horror do nacionalismo étnico, mas sou um defensor do
nacionalismo econômico, porque o capitalismo é uma competição não só entre
empresas, mas também entre Estados-Nação. Precisamos ter uma estratégia de
competição, que é uma estratégia de desenvolvimento. Além de ter essa visão
nacionalista econômica, você precisa ter uma visão republicana e,
finalmente, democrática, que é óbvia.
Mas o que é o republicano? Para mim, é uma coisa muito bem definida. Vem de
Aristóteles, passa por Cícero. O republicanismo é o princípio, de acordo com
o qual você só é um político, um cidadão digno de respeito, senão tem apenas
direitos, mas também obrigações. E é capaz de tomar decisões, como político,
como economista, como cidadão, que são pautadas pelo interesse público,
mesmo quando essas decisões não o interessem diretamente, pelo contrário, o
incomodam um pouco, ou bastante. Uma sociedade, para prosperar, precisa ser
democrática, republicana e, num certo grau, nacionalista. A democracia
inclui a igualdade – o grande problema brasileiro que precisa ser
enfrentado.
|
|
Carta de 88
OS CAMINHOS PARA UM BC AUTÔNOMO
DEBATE SOBRE A AUTONOMIA DO BANCO CENTRAL ENTRA COM FORÇA NA PAUTA DO CONGRESSO E ESTÁ ENTRE AS 15 MEDIDAS PRIORITÁRIAS DA AGENDA ECONÔMICA DO GOVERNO.
CARMEN NERY
O debate sobre a autonomia do Banco
Central surgiu com força em 1988, na Constituinte, tendo no centro das
discussões a polarização entre os monetaristas, de um lado, e os
desenvolvimentistas, de outro. Trinta anos depois, com o país vivendo
uma situação econômica e política impensável há tempos atrás, o tema
entrou novamente na pauta do Congresso Nacional pelas mãos do presidente
da Câmara de Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que, depois de
negociações com a direção da Autarquia, produziu texto que estabelece as
regras para o exercício da autonomia do BC. E que ganhou prioridade logo
após o governo ter desistido de tentar aprovar a Reforma da Previdência.
A autonomia do Banco Central está entre as 15 medidas prioritárias da
agenda econômica do governo, mas enfrenta uma disputa sobre sua
paternidade, envolvendo o Palácio do Planalto e o presidente da Câmara.
Segundo reportagem da Folha de São Paulo, de 18 de maio, inicialmente o
governo queria aprovar um texto que seria apresentado por seu líder no
Senado, Romero Jucá (MDB-RR), mas uma queda de braço com o deputado Maia
e possíveis questionamentos jurídicos mudaram os planos. Por ser uma
medida que concede autonomia a um ente do Executivo, o corpo jurídico do
Palácio do Planalto entendia que poderia haver um “vício de iniciativa”
se a autoria fosse do Congresso.
Para contornar a situação e evitar eventuais problemas de
constitucionalidade, o deputado já encontrou um caminho. Foi apensada ao
seu projeto uma proposta antiga sobre o tema, enviada pelo então
presidente Fernando Henrique Cardoso ao Congresso. Em declarações
veiculadas na grande imprensa, Maia tem garantido que o projeto de
autonomia do Banco Central que está na Câmara, possivelmente sob a
relatoria do deputado Celso Maldaner (MDB-SC), acolheu todos os termos
que são defendidos pelo presidente do BC e sua equipe.Entre eles, o
estabelecimento de mandatos fixos para os dirigentes do BC, a autonomia
técnica, operacional e a missão da instituição, além da autonomia
administrativa e financeira do órgão.
O ARTIGO 192
O debate sobre a autonomia do Banco
Central tem como pano de fundo a regulamentação do artigo 192 da
Constituição de 88, que trata do Sistema Financeiro Nacional, aguardada
há 40 anos e até hoje não enfrentada. Para o Sinal, a necessária
regulamentação desse artigo é indispensável para trazer maior segurança
às instituições envolvidas — Banco Central do Brasil (BC), Comissão de
Valores Mobiliários (CVM) e Superintendência de Seguros Privados (Susep),
ao mercado e ao cidadão.
Assessor de Ulisses Guimarães na
Constituinte, o economista e professor da Unicamp Luiz Gonzaga Belluzzo
lembra que houve um lobby poderoso para que o artigo 192 não fosse
regulamenta- do, mas entende que a revisão do sistema financeiro deve
ser o caminho para um Banco Central verdadeiramente independente. Para o
economista, a melhor proposta de um banco central autônomo seria aquela
que prevê não apenas duas, mas uma tripla missão: controle da inflação,
estímulo ao desenvolvimento e estabilidade do sistema financeiro.
“Há uma indisposição dos economistas conservadores e dos tecnocratas em relação ao segundo mandato, que assegura que o Banco Central tem de se dividir entre a estabilidade dos preços e o crescimento econômico. O Banco deveria ter ainda um terceiro mandato: a estabilidade financeira. Isso é o que está sendo adotado no mundo inteiro. Não está explícito no mandato dos bancos centrais, mas está implícito na ação das autoridades monetárias”, observa o professor da Unicamp.
O texto a ser apresentado pelo
deputado Rodrigo Maia para votação na Câmara, prevê, segundo suas
próprias informações, no entanto, o controle da inflação como única
missão do Banco Central. O presidente e oito diretores terão manda- to
de quatro anos, não coincidente com
o Presidente da República, e só poderão ser exonerados por decisão do Presidente, com aprovação do Senado nos casos de insuficiência de desempenho ou infração funcional. A autoridade monetária não estaria ligada a nenhum ministério.
Aliás, nos últimos anos, a ideia de um banco central autônomo que tome decisões essencialmente técnicas, não influenciadas por questões políticas de governo, ganhou força entre empresários e executivos do mercado financeiro. Mas para Belluzzo, conhecido por suas ácidas críticas ao neoliberalismo, a ideia que o governo e o mercado propõem de um banco central autônomo, que se move- ria por critérios estritamente técnicos, é uma grande mentira.
“Hoje o CMN é composto pelo presidente do Banco Central, que vem do sistema financeiro, assim como o ministro da Fazenda, que também integra o Conselho”. E completa: “Temos que ter uma autoridade monetária que seja realmente pública e que não possa ser capturada pelo setor privado, exatamente o contrário do que ocorre no Brasil. A independência só é assegurada se houver um conjunto de regras de vigilância muito bem estabelecidas. Quem vai vigiar? O Conselho Monetário Nacional? O Congresso?”, questiona.
 AS
BANDEIRAS DO SINAL
AS
BANDEIRAS DO SINAL
Na visão do Sinal, a dupla missão do
Banco Central teria como responsabilidade assegurar a estabilidade da
moeda, uma conquista da sociedade, mas também o comprometimento com o
desenvolvimento econômico e a geração de emprego. O modelo já é adotado
pelo Federal Reserve, banco central americano, com relativo sucesso, ao
manter ao mesmo tempo preços estáveis e crescimento do emprego.
Além de poder usufruir de autonomia orçamentária, administrativa e operacional, o Sinal defende que o Banco Central deveria contar com um corpo técnico com autonomia para fiscalizar o Sistema Financeiro Nacional. A ideia é que os funcionários do BC tenham prerrogativas para exercitar plenamente a sua atividade fiscalizatória, com a independência necessária, o que hoje acontece limitadamente. “Se o agente público não tem autoridade administrativa para exercitar o poder de fiscalizar e constituir em mora o fiscalizado em situação irregular, ele perde a condição mais importante para exercer sua função, que é a independência”, lembra um técnico do Banco.
A ampliação do Conselho Monetário
Nacional (CMN) seria o ponto de partida para essas mudanças, com a
integração dos representantes dos setores produtivos e dos
trabalhadores, o que daria uma representatividade maior para o Conselho.
Por trás dessa proposta está a visão de que para garantir a solidez do
sistema financeiro e a estabilidade da moeda — valores essenciais do BC
já incorporados pela sociedade — é preciso um banco central autônomo,
com controle social, que não seja submetido nem ao mercado, nem ao
governo.
O eixo condutor para essa transformação é a necessidade premente de regu-
lamentação do Artigo 192, que já foi mui- to mais amplo e democrático,
mas que em 2003 teve seu alcance reduzido por conta da Emenda
Constitucional nº40. Com nova redação, o Artigo ficou assim: “O
sistema financeiro nacional, estruturado de forma a
promover o desenvolvimento equilibrado do
país e a servir aos interesses da coletividade, em todas as partes que o
compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por leis
complementares que disporão, inclusive, sobre a participação do capital
estrangeiro nas instituições que o integram”.
O diagnóstico do Sinal é que, embora avançado tecnologicamente, com
liquidação de operações quase que instantâneas em todo o território
nacional, o país tem um sistema financeiro oligopolizado que não cumpre
suas funções de financiar o desenvolvimento. É bom lembrar que o Sistema
Financeiro Nacional (SFN) ainda é regido pela Lei 4.595, de 31 de
dezembro de 1964, criada em pleno regime militar e bastante anterior à
promulgação da Constituição de 1988.
Sendo assim, o sistema carece de legislação atualizada que estimule a poupança interna e a ampliação do nível de investimento em todos os setores da economia. Hoje, os recursos que poderiam ser utilizados no fomento da produção
são prioritariamente direcionados para
títulos da dívida pública.
UM PASSO À FRENTE
Mesmo deixando de lado algumas
bandeiras do Sinal, a proposta que está sendo negociada na Câmara, traz
alguns avanços que não podem ser ignorados. Para o presidente do
sindicato, Jordan Pereira, a aprovação da autonomia do Banco Central,
ainda que com limitações, representa uma grande conquista para os
servidores da instituição.
“O projeto que está em discussão é o começo da regulamentação do artigo
192: ter autonomia do Banco Central para conduzir a política monetária.
O cenário atual é o melhor momento, com os principais players
concordando com a autonomia. Mesmo que não tenhamos conseguido aprovar a
dupla missão, não adianta insistir para avançar muito, pois é preciso
avaliar o contexto histórico. É melhor conquistar algumas vitórias e ir
tentando regulamentações complementares. De qualquer forma, a autonomia
do Banco Central é uma mudança de cenário muito grande e representa uma
parte do que o Sinal quer”, avalia o presidente do Sinal.
Ele explica que a ideia de mandatos
coincidentes com o presidente da República teria por objetivo a garantia
da condução da política econômica do governo pelo BC. Mas, da forma como
foi colocado no projeto de Maia, com mandatos de quatro anos não
coincidentes e trocas de diretores, a proposta permite mudanças mais
suaves na economia.
“Se houver uma nova linha política, ela será implementada sem
sobressaltos. Esse aspecto não atende ao pleito do Sinal, mas é um
avanço em termos de governança”, entende. O Sinal também não desistiu de
lutar pela criação de um CMN amplo, mas ele chama a atenção para a
complexidade da questão. “Não há, no momento, espaço para avançar. Temos
de dar um passo de cada vez. O Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro - órgão colegiado integrante da estrutura do Ministério da
Fazenda, que tem por finalidade julgar, em última instância
administrativa, os recursos contra sanções aplicadas pelo BC e CVM e,
nos processos de lavagem de dinheiro, as sanções aplicadas pelo Conselho
de Controle de Atividades Financeiras (COAF) e demais autoridades
competentes - também não foi contemplado, e precisa de uma reflexão
maior”, observa Jordan Pereira.
Sobre a autonomia técnica e operacional do servidor do Banco Central no
exercício de suas funções, não contempla- da na proposta do governo, o
presidente do Sinal adianta que o sindicato continuará insistindo nesta
batalha, e lembra que já existe um projeto de revisão da carreira no
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.
“O projeto é o começo do que esperamos que, no futuro, seja a autonomia
completa. A expectativa agora é se ele conseguirá ser aprovado ainda
este ano. Quanto mais próximo dos eventos como a Copa do Mundo e as
eleições, menores as chances”, lamenta. Ele avisa que o Sinal e a
Fonacate (Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado)
estão trabalhando juntos para a sua aprovação ainda este ano. Estão
previstos encontros com as principais lideranças do Congresso para
incluir algumas questões que melhorariam o projeto, possibilitando a sua
aprovação.
|
Para o economista Luiz Gonzaga Belluzzo, nem
mesmo um banco central com autonomia pode estar imune a
interferências externas, sobretudo do mercado. É o caso do FED,
o banco central americano, que tem duplo mandato. Belluzzo
lembra que o modelo vigorou desde o pós-guerra e funcionou
razoavelmente bem até os anos 2000. Mas é preciso levar em conta
que os regimes monetários e fiscais se alteraram do imediato
pós-guerra até agora, com a mudança de rumo dos anos 1980/1990.
“Caminhou-se cada vez mais para uma visão
neoliberal na área econômica. O que aconteceu de maneira muito
clara é que, com a liberação do movimento de capitais e a
descompartimentação dos mercados financeiros, houve a criação de
supermercados financeiros”, diz Belluzzo, lembrando que antes
havia uma separação entre os bancos comerciais, de
investimentos, seguradoras e instituições de poupança e
financiamento imobiliário.
“Com isso, passou a haver uma alavancagem
excessiva. Depois, foram criados os derivativos — que, em vez da
proteção, do hedge, se transformaram em outro objeto de
especulação —, e surgiram os seguros de crédito negociados no
mercado. Os bancos centrais, a começar pelo FED, abandonaram
essa função de regular o siste- ma financeiro. Basta ver as
posições do Alan Greenspan (presidente do FED de 87 a 2006)
antes da crise, dizendo que não havia bolha e sim ganhos
incríveis de produtividade”, alfineta.
Ele observa que economistas honestos, como Joseph
Eugene Stiglitz, ex-assessor de Bill Clinton e economista chefe
do Banco Mundial, têm afirmado que os bancos centrais acabaram
capturados pelos mercados financeiros porque acharam que os
mercados são eficientes e a ocorrência de instabilidades seria
muito pequena. Esse arranjo teórico-ideológico e as
transformações recentes tornaram os bancos centrais reféns dos
mercados financeiros.
“No Brasil isso é escandaloso e assustador.
Embora no resto do mundo tenha acendido a luz vermelha, aqui
temos o problema das portas giratórias: os executivos saem do
sistema financeiro bancário privado e correm para o Banco
Central. Não que haja desonestidade, mas a visão que eles têm de
como funciona a economia e qual é a relação do crédito e das
finanças com a economia real é sempre uma visão deformada pelo
seu vício profissional", questiona. E chama a atenção para o
fato de que mesmo com toda a proclamação de independência do FED,
o banco central americano carrega hoje US$ 4,3 trilhões de
ativos podres em seu balanço que comprou para salvar os bancos.
O Tesouro teve de emitir dívida, que passou de 80% do Produto
Interno Bruto para os atuais 110%.
“Foi uma operação meramente patrimonial. A dívida
não aumentou porque o governo gastou mais, mas porque o tesouro
americano precisou emitir para prover os bancos privados com um
ativo que garantisse a higidez dos seus balanços. O FED ficou
com os ativos podres e emitiu títulos da dívida pública. Hoje a
inflação está rastejando, a economia crescendo moderadamente, o
investimento das empresas americanas não sobe e o desemprego
real é de 8,5%”, diz Belluzzo. Ele critica o modelo de autonomia em vias de ser adotado pelo Brasil, que considera bastante convencional e que não leva em conta as necessidades atuais. Mudou-se o regime de gestão dos bancos centrais no mundo inteiro, mas o modelo em análise no Congresso não contempla esse novo cenário pós-crise.
Explica que com essa intervenção de inflar o
balanço dos bancos com ativos, provocou-se uma bolha de sobre-
liquidez que tem levado os bancos centrais a moderarem a
política monetária. Eles estão com medo de provocar, com uma
subida das taxas de juros, uma queda no preço dos ativos. No
Brasil, a queda da taxa de juros favorece o lucro dos bancos,
pois é a taxa do mercado interbancário (o CDI usado para os
títulos de prazo mais curtos).
“O Banco Central do Brasil está abastecendo os
bancos com uma liquidez mais barata enquanto eles se valem de
seu poder oligopolista para manterem os spreads
elevadíssimos. Ao mesmo tempo, têm em tesouraria títulos NTNB
com taxa real acima de 5% e estão rolando a dívida das empresas
com CDI mais 5,5%, critica Belluzzo.
O economista concorda com a posição do Sinal de
que seria necessária a regulamentação do artigo 192. Ele lembra
que na redação original do artigo havia uma proposta de
tabelamento dos juros que foi rechaçada e ridicularizada. Mas
nos EUA, desde 1933 até 1986, a taxa de juros na ponta era
tabelada. “Foi uma medida do Roosevelt contra a ação oligopolista do sistema financeiro em que um dos alvos era o JP Morgan. Aqui no Brasil dos anos 1930 até o regime militar, houve uma estatização, na prática, do crédito com peso enorme do Banco do Brasil e depois do BNDES. Nos momentos de desaceleração, o Banco do Brasil saía emprestando, expandindo o crédito e irrigando todo o sistema financeiro. Esse modelo funcionou até a crise da dívida”, explica Belluzzo.
|
JUROS ALTOS
Cerco contra os bancos se fecha
Pressão para baixar o custo dos empréstimos bancários ganha fôlego com
iniciativas da Fiesp, do Senado e do Banco Central.
Jefferson Guedes
Cresce a pressão em cima dos bancos em
favor de uma queda efetiva do custo dos empréstimos. O primeiro bombardeio
veio da Fiesp, que lançou no dia 13 de março a campanha #ChegaDeEngolirSapo
- Diga Não aos Juros Mais Altos do Mundo. Quinze dias depois, o Banco
Central anunciou a redução do depósito compulsório – um dos cinco itens na
composição do spread . Em abril, um estudo divulgado por Tony Volpon,
economista-chefe do Banco UBS, mostrou que o spread médio dos
empréstimos à pessoa física em fevereiro estava 20 pontos percentuais acima
da taxa que deveria ser cobrada, levando-se em conta o declínio da Selic e
do nível de inadimplência.
No front legislativo, o Senado debateu este
estudo em audiência com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e ainda
criou a CPI dos Cartões de Crédito para investigar a cobrança de juros
abusivos no rotativo.
Como se vê, é um movimento que tem muitas
ramificações. A grande dúvida é se há força política para vencer a
resistência dos bancos. O Itaú, pelo menos, vem fazendo ouvidos de mercador.
Após divulgar o lucro de R$ 6,2 bilhões referente ao primeiro trimestre do
ano, o presidente do banco, Candido Bracher, afirmou (via teleconferência)
que não faz sentido esperar que os juros bancários tenham uma queda sensível
por conta da sequência de cortes na Selic. “É o mesmo que cobrar das
montadoras carros mais baratos devido à queda no preço do aço”, acrescentou.
Para Bracher, a redução do spread bancário será paulatina e deve ser
buscada "de modo sustentável". Por sustentável entenda-se: os bancos só vão
reduzir o spread se tiverem garantias de que isso não irá impactar os
resultados extraordinários que vêm obtendo. Segundo o Itaú, várias
alternativas estão em estudo, com destaque para linhas de crédito menos
arriscadas.
Lucros intocáveis
Enquanto o consumidor espera o resultado
prático desses estudos, os bancos utilizam outras estratégias para manter a
lucratividade intacta. Conforme lembra Ione Amorim, economista do Instituto
Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), os bancos têm se valido de
demissões de funcionários, fechamento de agências e aumento da digitalização
de operações para ampliarem o faturamento. Com um detalhe que faz toda a
diferença: a economia obtida não é repassada ao consumidor final, que
continua pagando tarifas altíssimas pelos serviços bancários.
Em 2017, os cinco maiores bancos do Brasil
- BB, Caixa, Itaú, Bradesco e Santander - arrecadaram R$ 27,3 bilhões
somente com as tarifas de conta corrente. O levantamento desses números,
realizado pelo site Infomoney, trouxe outros dados que ajudam a entender a
realidade do sistema financeiro nacional. O Banco do Brasil, um dos quatro
maiores do Brasil, teve lucro líquido de R$ 11,1 bilhões no ano passado. O
ganho com tarifas, por sua vez, somou impressionantes R$ 6,9 bilhões. O
cenário se repete, de forma muito similar, nas demais instituições
financeiras. Segundo o Idec, dos 58 pacotes de tarifas oferecidos pelos
bancos, apenas dois tiveram reajustes inferiores ao índice oficial de
inflação. A Caixa, em particular, chamou a atenção por aumentos
significativos em seus pacotes de serviços para pessoas físicas e jurídicas,
como no reajuste de 78,8% em seu pacote convencional, que passou de R$ 25,10
para R$ 44,90.
Já que as tarifas têm um peso tão decisivo
na lucratividade dos bancos, é pouco provável que sejam reduzidas. Por um
motivo muito simples: em um cenário de baixa competição, há pouco incentivo
para se oferecerem preços melhores para o consumidor. Na avaliação de Ione
Amorim, a política tarifária dos grandes brancos é típica de "um cartel
autônomo", pois os aumentos não seguem parâmetros, como a inflação e o custo
operacional. A alegação dos bancos - que afirmam promover os reajustes para
realinhar seus preços em relação ao mercado - é, segundo Ione, a comprovação
da existência deste cartel. Mesmo que os preços não sejam "combinados", fica
evidente que cada banco aumenta as tarifas para nivelar, por cima, com a
concorrência.
Estudo sobre o
spread
Muitos especialistas concordam, na
essência, com a posição da economista do Idec. Tony Volpon, ex-diretor do
BC, entende que o nível de concentração bancária não é a única causa do
spread elevado, mas certamente contribui para manter o cenário atual. Em
seu estudo, que fez estardalhaço no mercado, o economista-chefe do UBS
Brasil, valendo-se de um modelo bastante simples, comparou os preços do
spread com o comportamento das duas variáveis fundamentais para o custo
do crédito à pessoa física — o nível de inadimplência nos empréstimos e as
oscilações da Selic. Chegou à conclusão de que o spread não responde
mais ao comportamento dessas variáveis.
É preciso ler os números atentamente para
se avaliar a tese de Volpon. Em outubro de 2016, por exemplo, a taxa média
de juros para pessoas físicas estava em 74,3% ao ano. Em fevereiro de 2018,
caiu para 57,7%. Numa análise superficial, com o número bruto, um desavisado
poderia saudar a redução de 16,6%. Ocorre que, em um ano e meio, a Selic
caiu 54%. Houve espaço, portanto, para uma redução mais significativa do
spread que não se efetivou. Se tivesse respondido à queda dos juros
básicos e ao recuo da inadimplência, como prevê o modelo econométrico, a
taxa média dos empréstimos ao consumidor deveria ser, segundo Volpon, de
37,6% ao ano. Vinte pontos percentuais abaixo dos 57,7% efetivamente
cobrados em fevereiro de 2018.
E faz uma diferença e tanto. Chamou a
atenção, inclusive dos senadores, que debateram o estudo de Volpon em
audiência pública promovida pela Comissão de Assuntos Econômicos da Casa, em
24 de abril. Um dos convidados era Murilo Portugal, presidente da Febraban.
Com uma ponta de ironia, Portugal disse aos senadores que fica esperançoso
quando vê economistas do gabarito de Volpon trabalhando em um grande banco
internacional (UBS) que não atua no mercado de crédito. “Quem sabe esses
modelos da área econômica vão ser validados pela área de crédito e esse
banco vai começar a emprestar no crédito para aproveitar essa oportunidade
que acham que existe aqui no Brasil”, afirmou. Em seguida, questionou a
própria natureza do estudo: “Se é uma coisa tão boa, se está 20 pontos acima
do que deveria estar a taxa, por que será que os bancos estrangeiros não
entram nessa área?”
Para o presidente da Febraban, só
conseguiremos reduzir o spread bancário se fizermos uma reforma no
ambiente de crédito no Brasil que diminua os elevados custos da
inadimplência, dos impostos e dos custos regulatórios. “Não é a concentração
bancária, não é a falta de competição, não são os lucros abusivos que
explicam o alto spread bancário, mas, sim, os elevados custos da
intermediação financeira no Brasil”, disse aos senadores.
Parece pouco provável que Portugal consiga excluir a concentração bancária deste debate. Num ponto, porém, os especialistas concordam com ele: é preciso analisar cada item que impacta o ambiente de crédito e, a partir daí, atuar em várias frentes para tentar reduzir o spread. Miguel José Ribeiro de Oliveira, diretor de Economia da Associação Brasileira de Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac), entende que nada justifica o patamar dos juros que existe hoje, mas lembra que, além da Selic, há outros itens que impactam o custo dos empréstimos, conforme se vê no gráfico 1.
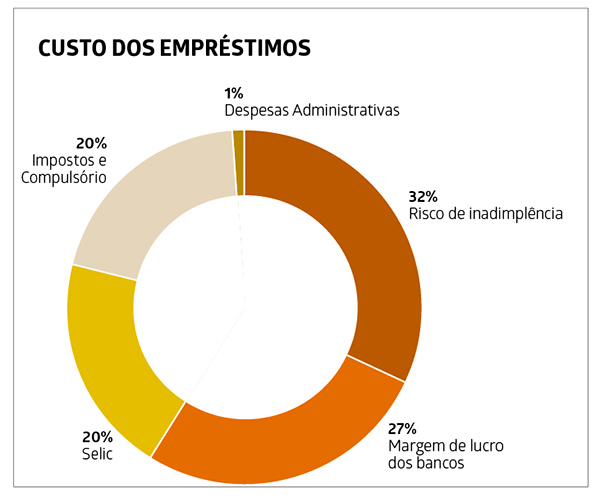
|
A Fiesp soltou o verbo e anunciou
que o Brasil tem os juros mais caros do mundo. A informação é
parcialmente verdadeira. Em 2016, segundo o Banco Mundial,
Madagascar – um país da África Oriental cujo PIB não chega a 1%
do brasileiro – detinha o “título” de campeão mundial do
spread bancário com a marca de 45%. O Brasil vinha logo
atrás, com 39,6%. Em 2017, o Banco Mundial ainda não computou os
números de Madagascar. Com isso, o Brasil assumiu a ponta. Há muitos países na mesma situação. A Alemanha, por exemplo, tinha um spread médio de 5,5% em 2016, mas não temos os dados fechados desse país para 2017. Seja como for, o Banco Mundial já divulga o spread da Europa, que também está bem abaixo da média global. Ver gráfico 2:
|
O mito da inadimplência
A inadimplência é um capítulo à
parte. Há uma disputa enorme em torno do papel dos caloteiros na composição
do spread. Isso se agrava porque os números disponíveis servem para
diferentes recortes. A Fiesp, por exemplo, argumenta que a taxa de calotes
no Brasil não é esse bicho de sete cabeças que os bancos pintam. No ranking
global de inadimplência de 2016, o Brasil ocupava a 66ª posição, com uma
taxa de calotes inferior àquela registrada em países como Itália, Irlanda,
Rússia e Espanha. Ainda assim, a margem de lucro cobrada pelo sistema
financeiro nacional é bem maior.
É importante levar em conta que essas
economias têm sistemas bancários bem distintos. Algumas variáveis são
difíceis de serem comparadas com precisão. Por isso, quando se faz uma
crítica mais sólida do spread praticado no Brasil, é melhor cotejá-lo
com a média de inadimplência das operações de crédito.
Os números neste sentido são bem
reveladores. Em março de 2018, a inadimplência no segmento de recursos
livres – em que as taxas de juros são livremente definidas pelos bancos –
caiu para 4,8%. O declínio, aliás, vem sendo uma tônica: em 2017, este
indicador estava em 5,7%, contra uma média de inadimplência de 6,3% no
período 2012-2014.
Já o comportamento do spread seguiu
o caminho inverso. No período entre 2012 e 2014 – antes da crise, portanto
-, o spread médio para pessoa física nas operações com recursos
livres teve uma média de 34,5 pontos. Com a crise e a recessão, o spread
subiu ano a ano e atingiu 54,6 pontos percentuais em 2017 - mesmo com a
inadimplência mantendo-se em torno de 6%. Para a Fiesp – que vem fazendo
coro ao estudo de Tony Volpon –, as pessoas físicas poderiam ter pago R$
141,6 bilhões de juros a menos se o spread estivesse alinhado com a
Selic e com os níveis de inadimplência, o que significa algo entre 20 e 23
pontos percentuais abaixo das taxas efetivamente cobradas pelos bancos.
A Febraban discorda. "O problema não é
apenas a inadimplência, é a taxa de recuperação dos créditos inadimplidos",
disse Murilo Portugal na audiência pública realizada no Senado. O presidente
da Febraban apresentou dados de um estudo da consultoria Accenture, que
mostra que a taxa de recuperação dos bancos em caso de calote é de apenas
15,8%.
Segundo este trabalho, as despesas com
provisões para empréstimos não pagos representam 4,5% da carteira de crédito
dos bancos, uma proporção 2,5 vezes maior do que dos países emergentes,
cujas provisões representam, em média, 1,8% da carteira de crédito. É
baseado nesses números que a Febraban afirma que o custo da inadimplência no
Brasil é maior em comparação com os países desenvolvidos.
Cabe observar, contudo, que é de frequente
utilização no mercado os chamados acordos de composição de dívida, em que
parte significativa dos elevados juros é abatida para viabilizar o pagamento
pelos devedores, em operações como cheque especial e cartão de crédito. Em
geral, é necessário que a operação esteja inadimplida. Desta forma, o
spread elevado contribui para o aumento da inadimplência não só pela
dificuldade de pagamento, mas como estratégia para uma melhor negociação.
Mas ainda que se admita, para fins de
argumentação, maior dificuldade na recuperação dos bancos nos casos mais
extremos de calote, o fato é que a inadimplência não cresceu de forma
espetacular nos últimos anos, algo que seria totalmente compreensível em
função da brutal crise econômica. Não existe motivo para o Brasil ocupar o
posto de campeão mundial do spread.
Estamos diante, portanto, de uma guerra
entre os bancos e a sociedade. O Banco Central, como autoridade reguladora
do Sistema Financeiro Nacional, tem o dever de se posicionar a respeito.
|
A atuação do Banco Central tem
sido suficiente para reduzir o custo do dinheiro? Desde 2017, a
instituição incluiu a “redução estrutural e sustentável do custo
do crédito” dentro da Agenda BC+. A primeira medida de impacto
foi a mudança nas regras do rotativo do cartão de crédito, uma
tentativa de conter a violência contra o consumidor,
representada por taxas astronômicas cumulativas, resultado da
cobrança de juros sobre juros. Houve bons resultados, já que os
juros médios dessa modalidade de crédito caíram da marca de
490,3% ao ano, em março de 2017, para 334,5% ao ano, em março
deste ano.
No entanto, ocorreu também uma
alta na taxa do rotativo regular do cartão de crédito (quando o
consumidor paga o valor mínimo da fatura). Em novembro de 2017,
os juros dessa modalidade estavam em 218,3% ao ano; em março de
2018, as taxas subiram para 243,5%. Ione Amorim avalia que isso
aconteceu porque o endividamento se manteve, só que numa
progressão mais lenta. Além desse efeito colateral, a mudança no
rotativo não impulsionou uma redução do spread bancário
médio.
Seja como for, não dá pra dizer
que o Banco Central está parado. A redução do compulsório,
anunciada em 28 de março, faz parte do conjunto de ações do BC
para induzir a queda do spread. Com a medida, o
compulsório do dinheiro depositado em conta corrente caiu de 40%
para 25%. Os bancos reivindicavam a mudança há bastante tempo,
sinalizando que o aumento do dinheiro disponível para
empréstimos (R$ 25,7 bilhões, neste caso) vai contribuir para a
redução do spread. Também a resolução 4655, do Banco
Central, que entrará em vigor no dia 1º de julho.
Ao contrário da Fiesp, a
estratégia do Banco Central não é de enfrentamento aos bancos. A
autoridade monetária prefere avançar gradualmente rumo à redução
do spread, como se estivesse “comendo pelas beiradas”. Um
exemplo típico deste movimento é a liberação das fintechs
(empresas de inovação no setor financeiro) em algumas operações
de crédito, consolidadas por duas resoluções do Conselho
Monetário Nacional, aprovadas em 26 de abril.
A entrada das fintechs no
mercado de crédito pode contribuir, em tese, para a queda do
spread, já que abre espaço para mais concorrência no setor.
Hoje, o Brasil tem 343 fintechs, que, por conta das
limitações até então existentes, detêm somente 0,3% do estoque
de empréstimos concedidos no país. É muito pouco, se compararmos
com o poder dos cinco maiores bancos brasileiros, que concentram
80% das operações de crédito realizadas no mercado. Seja como
for, as fintechs podem produzir efeito pedagógico no
consumidor, que terá acesso a um conjunto de empresas que
trabalham com uma estrutura mais ágil e custos menores.
Enfim, a Agenda BC+ é promissora.
Ainda mais se o BC conseguir convencer o Congresso a aprovar o
Cadastro Positivo – medida que tem potencial para promover uma
queda do spread em até 30% para os consumidores que
venham a se beneficiar com o perfil de bom pagador. O ponto fora
da curva foi a decisão do Copom, tomada em 16 de maio, de manter
a Selic em 6,5% ao ano, interrompendo um ciclo de 12 quedas
consecutivas.
O BC afirma estar preocupado com o
cenário externo, em especial, a alta do dólar verificada
recentemente. A questão é que o Banco dispõe de outros
instrumentos para conter a escalada da moeda americana, como
aumentar a oferta de swap cambial. Ao se valer da
política monetária para cumprir tal objetivo, o BC enfraquece a
luta pela redução do spread. Isso num momento em que os
especialistas esperavam mais uma queda na Selic - justamente
para aumentar a pressão sobre os bancos.
Esperemos que seja um recuo tático do BC, o conhecido “dar um passo atrás para depois dar dois passos adiante”. De qualquer forma, o assunto spread bancário ainda vai render muito em 2018, principalmente na campanha eleitoral. A novela continua e ninguém sabe se vai ter “final feliz”.
|



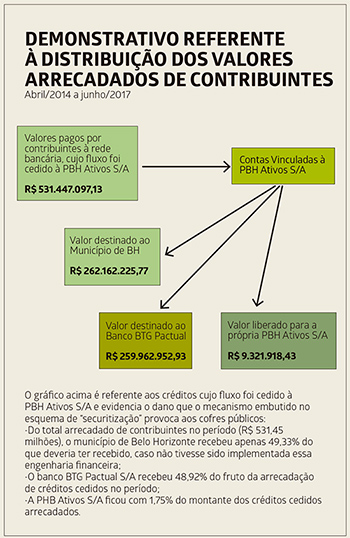 CPI
de Belo Horizonte aponta perda de R$ 70 bilhões
CPI
de Belo Horizonte aponta perda de R$ 70 bilhões